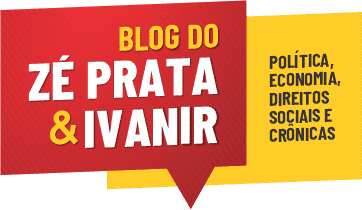Ao utilizar o motor de busca do Google Brasil(1), ao pesquisar por patrimonialismo brasileiro o primeiro resultado é uma página do Instituto Liberal(2), com o seguinte título: “O patrimonialismo brasileiro: como Faoro explica a crise atual?”, a leitura deste texto é um assombro para qualquer mente ilustrada. Trata-se de uma panaceia conceitual, com vestes intelectuais, uma doutrina de mau gosto, pueril, e academicamente desprezível, ao ponto de concluir o texto ligando o patrimonialismo a um partido político. Trata-se de um engodo, de uma manipulação que se justifica com imagens digitais de livros e obras sobre o tema.
Dessa forma é necessário desconstruir os conceitos e valores que estão apresentados na rede e no discurso político; e ainda viralizados sob forma de imagens digitais nas diversas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Aliás, uma das formas mais eficazes de se difundir e explorar o poder de imagem digital a simbolizar uma mensagem é pelo aplicativo WhatsApp, a ferramenta se tornou referência para o marketing político no Brasil nos últimos 4 anos. É necessário que sejam investigadas as formas como se pode chegar ao ponto de a primeira página de uma pesquisa no Google atribuir a Portugal as causas estruturais da crise econômica e política experimentada pelo Brasil de 2019.
Se faz necessário retornar aos escritos de Jessé de Souza (2017, p. 18) para buscar a imagem identitária do Brasil. Este autor acredita que a causa da construção da imagem do brasileiro como sendo uma continuidade do português patrimonial seria esclarecida pela teoria social do culturalismo (racista) conservador a qual, segundo Souza (2017, p. 19) constitui uma tese clássica do senso comum brasileiro, uma espécie de “sociologia espontânea dos leigos”, pois acredita-se que a transmissão cultural ocorre de forma natural e automática, como se se tratasse de uma herança genética.
A ideia da naturalidade cultural é o fator que moraliza a imagem digital, recebida pelo WhatsApp durante as eleições, ao colocar o rosto de um determinado candidato no lugar do rosto do Rei Afonso III, como uma forma de demostrar a continuidade com Portugal, bem como para demonstrar que as origens do candidato eram patrimoniais, afinal para o culturalismo conservador o patrimonialismo português se inicia nas Guerras de Reconquista, à guisa de Max Weber (1984).
Para descontruir a proposta messiânica do culturalismo conservador é necessário olhar para as instituições que estruturaram o estado brasileiro, e que permite lançar um olhar sociológico para a construção do Brasil. Concorda-se com Souza (2017, p. 20) que desde os primórdios a instituição que englobava todas as demais em plenitude era a escravidão, a qual não existia em Portugal como instituição e como modo de produção, embora seja reconhecida a presença pontual de escravos em Portugal entre os séculos XV e XIX. Portanto, a forma como se estruturou a família, a economia, os poderes políticos e jurídicos no Brasil se deu em função e sobre os valores da escravidão.
Porém, a visão culturalista simplesmente nega esse enorme arcabouço histórico, superando-o em prol de uma continuidade que seguiu por caminhos completamente difusos. É como se desde o século XV fosse possível pegar um avião e em algumas horas estar em Portugal e dois dias depois estar de volta ao Brasil. Ora, durante a época colonial, até à chegada da corte no século XIX, os portugueses que aqui vinham passaram por um processo de aculturação que geraria impactos sociais em ambas as localidades, desde hábitos simples como o consumo de castanhas em Portugal, até à miscigenação entre portugueses e tupis, com direito a pactos de guerra e paz (Bueno, 2016, pp. 17-34).
O cerne da questão quanto à imagem da escravidão edificada pelas redes digitais nos últimos anos se vale de falso cientificismo: a mesma é apresentada como um nome, um momento histórico pelo qual não se tem nenhuma dívida, como se a culpa por todas as atrocidades não fosse uma herança histórica, mas sim algo feito por um outro povo, apenas linhas em um livro de história, agora lidos à luz do digital. A proposta que hoje povoa a mente dos brasileiros esquece que o processo histórico e cultural edificou o povo desta terra como brasileiros e, apesar de individualmente não existir, nos tempos atuais, uma relação direta com a escravidão, do ponto de vista histórico e sociológico esta dívida é de todos, brasileiros e portugueses, sem qualquer distinção.
Como um engodo dessa magnitude pode ter se tornado um mito, pelo qual a responsabilidade por esse processo nefasto é delegada aos portugueses, enquanto a própria sociedade brasileira ainda se organiza de forma escravocrata? Souza (2017, p. 20) considera como uma das principais razões para esta cegueira institucional a indistinção entre nome e conceito. É possível falar da escravidão e não ser consciente dos seus efeitos e reflexos reais, e seguir em frente com a imagem midiática de uma sociedade que é a continuação de uma sociedade portuguesa patrimonial e essencialmente corrupta.
É dessa forma que a mídia digital vem trabalhando a construção da imagem do brasileiro, um mito nacional entreguista no qual é maculada uma estrutura de reprodução de poder, a qual é justificada e moralizada por uma herança histórica capaz de encobrir a verdadeira estrutura social que está corroendo as instituições democráticas brasileiras. A grande preocupação é que este discurso tem sido ilustrado por meio de imagens (digitais) distorcidas nas redes sociais e no universo da web, ao ponto de ser tomado como verdade. O culturalismo conservador está edificando essa proposta histórica como a origem de todo o mal estar contemporâneo do Brasil. Ironicamente, a mesma elite e uma parcela superior da classe média que assinam este pacto nefasto, e ainda patrocinam midiaticamente o engodo, estão a migrar para Portugal em grandes hordas em fuga dos problemas sociais especialmente ligados à segurança e à qualidade de vida que faltam no Brasil.
Souza comenta (2017, p. 21) existir um toque satânico nesta bizarra construção histórica cujo objetivo é “demonizar o Estado como repositório da suposta herança maldita portuguesa” como uma forma de criar uma resposta moralista em hibernação, a qual será acordada sempre que o Estado for ocupado por lideranças populares que não atendam aos interesses e não acentuem os privilégios da elite, o estopim sempre será a corrupção, seletiva e dentro do estado.
Nota-se a sagacidade na construção de uma farsa social que, com a chancela do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e da validação “cientifica” do Google está a consolidar-se na memória cultural de toda uma nação. As imagens digitais estão a realizar um trabalho de manipulação social e política à luz do que Benjamin (1992, pp. 79-119) alertou a respeito do risco da união entre a técnica e estética. Essa narrativa está a ser construída desde a origem do pensamento social brasileiro e em 2013 ganhou fôlego com o incremento tecnológico, radicalizando-se através dos dispositivos móveis, especialmente os smartphones a partir de 2016.
Freyre (2006, pp. 12-23) define o ano de 1532 como a virada portuguesa em que se propõe uma forma mais eficiente de colonização: a economia seria ancorada na monocultura e na mão de obra escrava, e na base social a família patriarcal portuguesa, constituída pelo casamento entre o português e o índio. Para Freyre (2006) o sistema escravocrata brasileiro foi estruturado pela união entre um escravismo semi-industrial oriundo das grandes monoculturas agrícolas (uma referência do sistema norte-americano) e um escravismo familiar e sexual de origem moura (Souza, 2017, p. 22). De acordo com o autor (2006, pp. 179-181), esta segunda característica é o resultado de uma herança mulçumana na formação cultural portuguesa, a qual foi também introduzida no processo colonial brasileiro.
A herança sexual moura que estava na origem da colonização é uma das formas exploradas por determinadas mídias e redes sociais religiosas para pregar a perversão do brasileiro, como uma continuidade do português. As manipulações sempre vêm acompanhadas da imagem digital de Freyre, que representa a chancela da ciência para a pregação religiosa. E o argumento para a imagem da suposta perversão sexual do brasileiro é consolidado por outra proposta de Freyre: a necessidade de povoação de um país de dimensões continentais por um país pequenino como Portugal. Tal afirmação justifica a adoção do sistema de escravidão português à maneira árabe (em detrimento da maneira europeia), na qual a poligamia, embora repudiada pelo cristianismo, era socialmente praticada através da relação do pai de família com as escravas, uma forma maometana de aumentar a população (Souza, 2017, pp. 21-23).
Souza (2017, p. 23) chama a atenção para a questão que irá contribuir para a base social brasileira, segundo a obra de Freyre trata-se o fato de o filho do pai europeu com a escrava africana poder ser aceito como europeizado, no caso de aceitar a fé e os costumes do pai. O poder ilimitado do pai de família, que não possui um Estado legislador e instituições políticas limitadoras, permitia-lhe construir suas relações segundo os interesses próprios e necessitaria apenas satisfazer seus próprios desejos: o patriarcalismo (Freyre, 2006, p. 112).
As bases que Freyre lança para a consolidação do culturalismo conservador estão exatamente nessas propostas de uma única origem do mal que habita as terras tupiniquins, a origem portuguesa que constrói o poder da Casa Grande, e a senzala como um jardim da perversão, do poder absoluto do patriarcado e do sadismo. A obra de Freyre atribui como herança valores que devem ser considerados como brasileiros, pois foi o processo historicamente estabelecido, conforme muito bem exposto pelo próprio Freyre em sua obra, a distância do Estado e das instituições portuguesas, que lhe deu origem.
Souza (2017, p. 27) alerta para a transformação do sadismo patrimonialista em mandonismos em Sobrados e Mucambos (Freyre, 1990). Nessa obra Freyre analisa outro aspecto da sociedade brasileira: saindo da esfera privada, do seio da família para a esfera pública, inaugurando uma dialética tipicamente brasileira de privatização do público pelos detentores do poder, razão contrária do patrimonialismo, alardeada por Raymundo Faoro (2001) e Sérgio Buarque de Holanda (2006), que determina que a fonte do apropriamento e da corrupção se encontra no Estado. O verdadeiro mandonismo atual, portanto, está nas elites financeiras, como em primeiro momento histórico esteve com os proprietários rurais e posteriormente com os proprietários urbanos.
Essa realidade cria a figura do agregado, normalmente mestiço, que vai constituir a base da burocracia brasileira e uma espécie de capataz da elite, que mesmo tendo origem escravocrata mantém a devida distância social dessa condição. Como até meados do século XIX a igreja estava associada ao poder do patriarcado, esta instituição posicionava-se como uma extensão desse poder, e nada fez para alterar uma realidade que criava um verdadeiro sistema de castas que sobrevive até hoje no Brasil. As relações de poder são tipicamente brasileiras e representam uma forma social de se continuar com a ideologia escravista até aos dias atuais, não podendo, de maneira alguma, ser apresentada como uma continuidade com Portugal.
A temática da modernização é levada a cabo em Sobrados e Mucambos (Freyre, 1990), obra na qual se reflete a respeito da ordem sadomasoquista do mandonismo escravocrata com a incipiente modernização institucional do Brasil pela entrada em cena do mercado capitalista e do Estado burocrático centralizador (Souza, 2017, pp. 28-35). A ótica social de Freyre (1990) é a decadência do patriarcado rural brasileiro e a ascensão da cultura citadina no Brasil, processo que foi consolidado como a vinda da corte portuguesa em 1808.
Esse ponto é extremamente relevante, pois Freyre deixa claro que o processo de urbanização brasileiro é uma influência europeizante, não ibérica. Segundo Souza (2017, p. 30) é até anti-ibérica, pois aponta para novas formas de vestir, de falar e de comportamento público, “é como se os brasileiros passassem a consumir pão e cerveja como os ingleses e consumir a alta costura de Paris” (Souza, 2017, p. 31), sendo portadores inatos dos valores culturais da Europa do Norte. Algo que era superficial, apenas para causar impacto e demonstrar que os costumes europeus por aqui chegavam, o que Ianni (1996, p. 18) descreve como valores europeus que estavam na Europa da Inglaterra e da França, processo pelo qual passava a própria corte portuguesa, que por aqui desembarcou.
A leitura de um processo de modernização sem autenticidade, superficial, é uma das bases do culturalismo racista que se encontra em franca expansão nas redes digitais, no qual se valoriza o que “vem de fora”, desde que não venha de Portugal, pois é de “lá” que se origina toda a desgraça social que assola o Brasil. É o que defende Raymundo Faoro (2001) ao elucidar que a modernização brasileira não foi realizada com a profundidade necessária: seria uma bebida nova em um velho barril.
O processo de modernização trouxe outra questão que ainda é muito explorada pelas mídias digitais: a consolidação da pobreza em função da libertação dos escravos, os quais foram para as cidades sem a menor condição de sobreviver ou de trabalhar, enquanto seu trabalho nas lavouras foi substituído pelo trabalho imigrante, principalmente composto por italianos. Dessa forma, foi o Estado brasileiro que deixou o grande contingente de escravos à deriva nas cidades, e o ódio ao negro e ao pobre vai sendo institucionalizado até chegar ao ponto em que um presidente da república em 30/05/2019, em uma live no Facebook, dizer ao se referir a um partido popular a seguinte frase: “Eles gostam de pobre. (Para eles) quanto mais pobre melhor”. Essa é uma das razões pelas quais é necessário reler a formação do mito nacional brasileiro, pois esse tipo de construção está em constante distorção e simboliza o macabro uso das redes sociais para a disseminação da intolerância e do ódio ao outro. Trata-se do uso das imagens em rede como uma maneira ideológica de destruir a alteridade em prol da construção de uma proposta autoritária e racista. Utiliza-se a tecnologia digital como um instrumento repressor que pode ser ampliado para todo o universo político. Esse tipo de uso pode se tornar o propulsor de novas formas de fascismo, pois permite a construção de um regime, cultuado e idolatrado por um número enorme de seguidores, que busca elementos históricos para serem distorcidos em puro moralismo político.
A transformação da raça condenada (negros escravos), descrita no conceito provocativo de Jessé de Souza (2017, p. 34) de “ralé brasileira”, atualmente composta por negros, mulatos e brancos em condição de subproletariado, em total abandono social, é o que leva a uma declaração asquerosa e preconceituosa de um presidente da república, cujo país absorve anestesiado, sem se revoltar ou repreender em protesto. Na realidade, a transmissão de imagens digitais está sendo efusivamente aplaudida por seus seguidores nas redes sociais.
A consolidação da modernidade brasileira trouxe também a figura do mulato, normalmente um agregado familiar, filho de branco e escravo, que possuía a capacidade de mobilidade social. As origens da classe média brasileira se encontram no mulato, o que Freyre classificou como “mulato bacharel”, que possuía uma melhor qualificação que o mestiço artesão (Freyre, 1990, p. 65). Souza (2017, p. 41) aponta que no século XIX, momento da modernização do país, já se aponta o mecanismo de distinção social que irá definir a classe média contemporânea: o capital cultural valorizado. No processo de modernização do Brasil ocorreu a incorporação social do mestiço (mulato) e a demonização do negro.
A demonização partia do princípio que, mesmo liberto, o negro possuía a mesma função social, mas após a abolição da escravatura ele agora estava “solto”, seria um animal perigoso, que deveria ser abatido em prol do bem-estar da sociedade, e do cidadão de bem. Discurso que se encontra entre os mais comentados nas redes sociais em 2019. Souza (2017, p. 42) distingue a opressão ao negro de duas formas distintas, uma simbólica, na qual se evidencia o prazer da “superioridade e do mando”; e outra “material e pragmática, no sentido de criar uma classe sem futuro que pode, portanto, ser explorada e vil”. Preconizando as palavras do presidente da república em maio de 2019, Souza (2017, p. 42) afirma: “O ódio ao pobre hoje em dia, é continuação do ódio devotado ao escravo de antes”.
Essa é a verdadeira razão pela qual a classe média se colocou nas ruas em 2013, e não a corrupção seletiva destinada ao PT(3), pois o mesmo povo não foi às ruas quando a corrupção atingiu de forma mais profunda outros partidos políticos. O ódio ao PT era o ódio destinado à pequena parcela da sociedade que estava deixando a condição de extrema pobreza (Souza, 2017, p. 42). Trata-se de um ódio gestado há 150 anos, desde a entrega dos negros à própria sorte, porém a partir de 2013 foi possível professar este ódio de forma silenciosa pelas redes digitais e de movimentos que se articulavam por meio delas.
O que Freyre (1990) aponta como positivo foi desconstruído por Sérgio Buarque de Holanda (2006) e por Raymundo Faoro (2001): é o valor da receptividade e da disponibilidade gerada pela aculturação entre os negros, índios e europeus o que, para Freyre (1990, p. 167) é uma característica positiva que, inclusive, serviu como lema para o presidente (do Brasil) Getúlio Vargas, mas que em nome da consolidação do culturalismo conservador será ressignificado como algo negativo.
Diante dessas breves considerações entre o Brasil colônia e o Brasil moderno, pergunta-se: onde está a continuidade com Portugal, onde está essa herança ibérica maldita? Como pode um mote deste calibre ter se estabelecido em toda uma nação?
Uma das possíveis respostas é apresentada por Souza (2017, p. 58), a leitura economicista da realidade não permite compreender a importância dos aprendizados societários simbólicos e morais. A esta visão economicista, segundo a qual o valor está baseado na relação extrema com o dinheiro, possibilita a criação da imagem do outro apenas em relação ao próprio ganho e ao próprio interesse, quando se quebra o caminho para a alteridade abre-se um interstício para a ação dos discursos flamejantes das imagens em rede. Ao não perceber o outro, o culturalismo conservador consegue se propagar por meio de uma naturalidade genética pela qual se percebe como imaculado e entende que a responsabilidade pelos grandes problemas sociais não cabem a si, mas a uma herança histórica maldita em que o português representa o estado patrimonial e a continuidade da corrupção e o norte-americano a honestidade e a prosperidade do mercado. Esse engodo político está a flanar a todo o momento de forma atemporal, e dessa forma vai-se construindo uma imagem perversa do brasileiro e do português enquanto corpos individuais e coletivos, sem qualquer tipo de fundamento, lastreado em uma farsa pseudocientífica.
OPINIÃO PÚBLICA: A CONSOLIDAÇÃO DO DISCURSO CULTURALISTA
A opinião pública surge como uma inovação inerente ao capitalismo industrial, portanto, já nos finais do século XIX, com a ascensão dos valores da liberdade e igualdade por meio do sufrágio universal e da educação em franca expansão, torna-se patente a necessidade de uma opinião pública mais inclusiva (Habermas, 2003, p. 40). Os valores capitalistas aliados ao estado democrático de direito desembocam em um único contexto funcional, as mercadorias passam a ser materiais e simbólicas, a indústria cultural (Adorno, 1977) assume um papel fundamental para a consolidação e a expansão do capitalismo em transição de sua forma industrial para o formato financeiro.
As indústrias culturais não produzem e nem distribuem o conhecimento que transforma e emancipa o “ser”, mas são focadas em estereótipos e produtos que convencem por repetição e constroem um imaginário baseado nos interesses do jogo social de um determinado momento (Adorno, 1977, pp. 67-98). Souza (2017, p. 67) apresenta o clichê político dos jornais brasileiros do tempo atual como exemplos de produtos culturais rasos e direcionais como: “Chamar de chavismo ou de bolivarianismo qualquer crítica a si mesmo”. Falta a exposição de argumentos opostos, do espaço ao contraditório, pois somente pela divergência o sujeito pode formar a própria opinião. É por meio da incidência da opinião pública ou do debate em torno de um pensamento único que a esfera pública consegue, nos bastidores, manipular a grande imprensa, pois ela precisa parecer plural e imparcial, somente assim ela pode-se legitimar-se.
O papel da opinião pública foi fundamental nos últimos 150 anos para transformar em razão verdadeira a imagem do Brasil como um enorme Portugal, e ainda atribuir ao brasileiro a unicidade informacional, uma via única capaz de introduzir na sociedade o valor moral dos folhetins durante as seis primeiras décadas do século XX e a partir da década de 1970 o moralismo conservador das telenovelas, nas quais desde a moda até aos valores sociais e políticos giram em torno desta temática. Ainda é interessante notar que as telenovelas são exportadas para Portugal, mas constituem nesse país um valor moral de menor influência.
Habermas (2003) propõe que o caminho mais plausível é a democratização institucional, na qual o espaço seja aberto para entes sociais e políticos com o objetivo máximo de criar um espaço comunicativo, aberto à crítica pública, capaz de buscar na diversidade a reflexão e a construção de um pensamento intelectual. Porém o próprio Habermas (2003, p. 111) verifica que é impossível retornar a uma era pedagógica como a realizada em meados do século XVIII, pois o que se estabeleceu foi o domínio dos interesses privados e dos valores protetivos do mercado capitalista, que reúnem em espaço público demandas e indicadores privados.
A alternativa de Habermas (2003, pp. 112-127) é baseada em uma proposta de controle recíproco, em que instituições rivais ou de pensamento difuso possam por meio da tensão trazer o equilíbrio informacional, em meio à disputa pelo poder econômico, social e político. Essa lógica foi aplicada na profunda reformulação da imprensa europeia no pós-guerra, especialmente na regulamentação da televisão. Em grande parte da Europa e em uma parcela dos Estados Unidos o estatuto que criou as emissoras de televisão as estabeleceu como uma proposta institucional pública (Souza, 2017, p. 68).
Chama-se à atenção, principalmente ao lei tor sul americano, que o conceito de televisão pública não deve ser confundido com o conceito de televisão estatal, destarte que uma parcela das televisões públicas europeias tenham surgido inicialmente como estatais. Todavia, o processo europeu deu-se de tal maneira que as condições e as preocupações determinadas por Habermas (2003, pp. 112-134) como a diversidade de conteúdo, a profusão de interesses políticos e econômicos diversos e divergentes foram fundamentais na transição das redes de televisão estatais para as redes de televisão públicas (Souza, 2017, p. 69). Em países cujas instituições políticas eram sólidas, o processo ocorreu de forma natural como na França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal (Souza, 2017, p. 69). O avanço da cidadania na Europa após o trauma da Segunda Guerra Mundial levou a uma rápida expansão dos diretos humanos, o que enseja do ponto de vista social o fortalecimento das instituições democráticas, levando os sistemas de imprensa televisiva ao controle público, em que a sociedade pode participar do gerenciamento das emissoras, os partidos políticos se colocaram em representação na estrutura dos sistemas de televisão, bem como se abriu espaço para a participação de associações diversas e igrejas (Souza, 2017, p. 69).
A televisão brasileira, ao contrário da portuguesa, estabeleceu-se sem a concorrência de um sistema televisivo público, o que não permitiu que um sistema de mediação da esfera pública se estabelecesse no Brasil (Souza, 2017, p. 69).
Souza (2017, p. 70) discorre sobre esse sistema de televisão concedido à inciativa privada com rara clareza: “O círculo discursivo se quebra no seu primeiro e principal elo de transmissão pública dos argumentos. Os telejornais e programas de debate da Rede Globo e os outros canais com pessoas que refletem a mesma opinião criam uma fraude evidente”. É interessante notar que os principais estudiosos da televisão brasileira não apresentam um olhar crítico. Sérgio Mattos (2010), em seu livro a História da Televisão Brasileira, apresenta um panorama político crítico sobre a influência dos presidentes Getúlio Vargas e Fernando Henrique Cardoso no sistema de concessões da televisão brasileira, mas não chega a denunciar a farsa da construção de uma opinião nacional por meio dos interesses exclusivos do mercado.
Situação de maior preocupação (e até certo ponto risível) é encontrada na obra de Flávio Ricco e José Armando Vannucci (2017) intitulada Biografia da Televisão Brasileira, uma das obras atualmente mais aclamadas pela imprensa brasileira sobre a história da televisão, dividida em dois volumes e totalizando 928 páginas de pura ilusão, pois o sistema brasileiro de televisão é apresentado como um veículo que cativa corações e mentes e um símbolo da cultura nacional, sem qualquer tipo de olhar crítico, apenas uma ode ao meio de comunicação como um dos grandes responsáveis pelo progresso do país.
A semelhança de opiniões que se travestem de debate em alguns programas de televisão e os telejornais em um modelo de uníssono criam um público sem padrão de comparação, que facilmente irá seguir a opinião da mídia (Williams, 2016, pp. 35-56). Trata-se do poder das imagens aliado ao poder do discurso, ilustrados pelo poder das imagens digitais a esgarçar a escatologia do decoro televisivo, e a povoar toda uma população com fake news imagéticas. Está-se diante de um sistema midiático perverso, que inicia a manipulação pela televisão e delega a baixaria e a podridão do racismo e da intolerância para as redes sociais simbolizarem por meio da sistemática imagética digital.
A esfera pública, quando colonizada pelo dinheiro (uma colonização perversa, e não uma suposta e falsa colonização do Estado por uma maldição patrimonial portuguesa), evita a construção de uma racionalidade pela população que permitiria a união entre verdade e justiça (Souza, 2017, p. 70).
É obvio que o sistema televisivo português merece críticas, como as questões de valoração apriorística que alguns canais como a SIC estão a alargar, ou mesmo a própria estrutura política da RTP, e tantas outras críticas que podem ser observadas em Felisbela Lopes (2012), Moisés de Lemos Martins (2003 e 2011) e Sara Pereira (2011), dentre vários. Enfim, não cabe neste artigo e nem é seu objetivo o aprofundamento a respeito dos sistemas de mídia televisivas. Tanto no caso português quanto no caso brasileiro o que se quer evidenciar são as construções em relação à imagem, à opinião pública e à manipulação midiática. No caso brasileiro encontramos um sistema simbólico encadeado em função de um direcionamento ideológico o qual não é encontrado de forma tão bem articulada e extremamente institucionalizada em Portugal, principalmente pela origem pública do sistema de televisão, pois a ausência de pluralidade de informações e opiniões transforma o sujeito em um ser manipulável e incapaz de pensar por si próprio (Souza, 2017, p. 70).
Os riscos de um espaço público colonizado pelo dinheiro e suas necessidades elitistas de reprodução, como ocorreu no Brasil, é um potencializador daquilo que Habermas (2003, p. 56) denomina como refeudalização da esfera pública.
O que de fato chama a atenção é a ideia do patrimonialismo, de origem weberiana (Weber, 1984, p. 98) que, em síntese, trata de uma concepção do poder materializado por uma imbricação entre as esferas pública e privada, que se tornam quase indistintas.
Quando Faoro (2001) atribui ao patrimonialismo a herança portuguesa de um estado corrupto e colonizado por interesses espúrios que formariam o patronato brasileiro, ele não consegue observar que a relação de fato ocorreu em um formato completamente brasileiro, sem qualquer ligação externa, especialmente com Portugal: foi na formação do sistema brasileiro de televisão. Aliás, essa é uma forma muito clara de entender que o assalto ao Estado brasileiro ocorre de fora, sendo a classe política apenas o soldado raso dos verdadeiros “donos do poder”, a mídia e o mercado. Pois bem, eleger a continuidade patrimonial com Portugal é fechar os olhos para o que ocorre com a opinião pública dentro do Brasil.
A verdadeira colonização é a da esfera pública pelo interesse econômico, a privatização do Estado por uma suposta elite estatal é uma grande farsa. Nas palavras de Souza (2017, p. 71) “é o embuste do patrimonialismo como jabuticaba(4) brasileira, (onde) a privatização do espaço público, que é real, é tornada invisível.” Essa relação escamosa é que garante o acionamento midiático da população para reagir à soturna ameaça da corrupção patrimonialista, sempre que os interesses privados vislumbram a distribuição de renda na estrutura do Estado. Basta que o interesse econômico acione a imprensa de modo direto ou indireto para que um exército de indignados se ponha contra seus próprios direitos, mas em favor do editorial do Jornal Nacional, e inicie um combate à (falsa) maldita e malfadada herança portuguesa.
A opinião pública, gerenciada pelos interesses privados, é a chave da farsa que vem se montando em nome de um suposto patrimonialismo nefasto, permeando inclusive o imaginário do brasileiro a respeito do português, o qual preconceituosamente é tido como menos inteligente e dependente da esfera pública e do emprego público, sobretudo, uma fonte imaterial na qual não deve se espelhar. O preconceito deve ser combatido e enunciado, ademais, além de discriminatório tem origem em uma farsa puramente brasileira. Essa situação é um escárnio, pois não se refere a um ressentimento do passado colonial, ou dilema social pós independência que em várias ex-colônias (portuguesas, francesas e inglesas principalmente) pode ser observado, mas sim um engodo de uma suposta continuidade com o império português.
A consolidação das classes sociais ocorreu no Brasil de forma tardia e distinta do exemplo europeu. A industrialização brasileira inicia-se após a I Guerra Mundial, e de forma concentrada na região sudeste do país. Naquele momento se inicia a formação da classe média brasileira, o Estado era o principal fomentador da industrialização, sendo criada uma base nacional de indústrias de capital estrangeiro (Sevcenko, 2010, pp. 45-78). A imagem do Brasil passa então a mudar de um país ruralista para um país que fomentava uma industrialização. Nesse período histórico ocorre um distanciamento político e comercial em relação a Portugal, sendo justamente no momento de distanciamento político e econômico que se inicia a construção do mito nacional brasileiro como uma continuidade patrimonial com Portugal.
A classe média que estava se consolidando no Brasil por meio do emprego industrial e do avanço dos serviços e do comércio era singularmente heterogênea, e devido ao seu posicionamento intermediário em relação às demais classes possuía a capacidade de fomentar politicamente um projeto desenvolvimentista. A questão de fato ocorreu com o movimento Tenentista(5), que se opôs às eleições fraudadas e altamente restritas, bem como ao pacto conservador que havia fundado a Velha República (período que compreendeu a proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas). Esse grupo acabou se pulverizando em diversas frentes políticas: uma delas foi o comunismo, pois uma parcela do grupo apoiou o líder Carlos Prestes, outra parte alinhou à de Getúlio Vargas e participou da revolução de 1930 e, finalmente, uma terceira parte tornou-se oposição ao regime getulista (Boris Fausto, 1996, p. 114).
Essa configuração pulverizada da classe média se torna fundamental para a moralização do culturalismo conservador, pois quando Sérgio Buarque de Holanda (2006) atribui ao patrimonialismo (herdado de Portugal) de uma suposta elite que habita o Estado a origem do grande problema nacional, não há nenhuma construção nova, pois o combate à corrupção (seletiva) já era uma bandeira do movimento tenentista (Souza, 2017, p. 72).
A grande virada para a construção de um pensamento social conservador se dá com a pulverização do tenentismo, o qual não soube se articular criticamente em torno de uma crítica contumaz à estrutura estatal e ao verdadeiro papel das elites em usar o Estado e não estar dentro dele. Diante de tal profusão social, a elite paulista (proveniente do estado de São Paulo) – que mantinha o poder econômico, mas havia perdido o poder político para o gaúcho (proveniente do estado do Rio Grande do Sul) Getúlio Vargas – , elaborou um projeto de poder auspicioso, calculista e de longa maturação (Souza, 2017, p. 73).
O projeto se travestia de republicano, pois proibia o voto de cabresto(6), eliminando assim a violência física e entrando em pauta a violência simbólica que ainda é exercida e exponencializada por meio das imagens digitais em rede, como forma de garantir os privilégios e assegurar a perpetuação da casta paulista no poder (Souza, 2017, p. 73). Nas palavras de Souza (2017, p. 73): “Com o estado nas mãos do inimigo, a elite do dinheiro paulistana descobre a esfera pública como arma”. De facto a marcha dos acontecimentos iria ser extremamente relevante para a construção de uma imagem nacional baseada em uma grande farsa. Construir uma imagem da identidade brasileira que garantisse a perpetuação de um projeto de poder político a ainda criar uma arma que pudesse ser acionada sempre que o poder “fugisse as mãos” dos interesses da elite seria decisivo para que a rapina ao Estado pudesse ser perene e moralizada diante da população.
Esse momento histórico coincide com a ascensão de Salazar ao poder em Portugal, a repressão e o fechamento do país dentro de seu próprio território (Torgal, 2009) levaram à introdução negativa das supostas heranças portuguesas ao mito nacional brasileiro que estava a ser lapidado cuidadosamente em função dos interesses de uma elite econômica sediada em São Paulo.
A elite paulista, percebendo os novos tempos e o potencial de mobilização da classe média, aliada aos valores liberais do mercado, enxergou a oportunidade de construir uma imagem do brasileiro baseada em um liberalismo que atua pelo convencimento e não mais pela opressão (Reis, 2004, pp. 14-39). A classe média deveria então ser moralizada em função de um resgaste “mandonista” (Freyre, 2006, p. 26) sob nova roupagem. A oligarquia paulista é oriunda dos grandes latifundiários do período colonial, logo seus valores deveriam seguir a nova lógica citadina de reprodução de interesses. Segundo Souza (2017, p. 73): “o domínio do campo na cidade tem que ser agora civilizado, adquirindo cores da liberdade e da decadência, os mantras da classe média citadina”. Estava em jogo a apropriação intelectual e simbólica da classe média em busca do capital cultural útil por meio da educação (Adorno, 1995). Dessa forma a classe média se torna presa fácil dos interesses das elites, e o caminho seria a moralização do culturalismo liberal conservador por meio da formação educacional. Esta apropriação intelectual seria marcante no pacto de classe que existe no Brasil até os dias atuais.
Concorda-se com Souza (2017, p. 74) que a criação da Universidade de São Paulo (USP) em São Paulo, por essa elite econômica que acabara de perder o poder para Getúlio Vargas, é uma das primeiras respostas materiais para a retomada, a manutenção e a reprodução do poder político das elites econômicas paulistanas. A USP foi pensada como “uma base simbólica, uma espécie de think tank gigantesco do liberalismo brasileiro desde então” (Souza, 2017, p. 74). Um projeto educacional capaz de difundir o conservadorismo liberal e utilizá-lo para contrapor-se ao inimigo político que porventura chegasse ao poder, nessa época representado por Getúlio Vargas. É no contexto de criação da USP que a figura de Sérgio Buarque de Holanda ganha repercussão; sua obra Raízes do Brasil (Holanda, 2006) funciona como um sistematizador da nova proposta liberal brasileira, a qual Souza (2017, p. 74) denomina de “liberalismo vira lata”, pois se valerá de uma definição do brasileiro como cordial, sustentando um estado patrimonial que representa uma continuidade com o português naturalmente corrupto. Dessa forma o que é externo ao Brasil será sempre socialmente e economicamente superior, se for norte-americano representará o que há de melhor, o crème de la crème.
A proposta de Holanda (2006), ao construir a ideia de um estado patrimonial e o brasileiro como cordial se veste de crítica para legitimar a naturalidade do brasileiro como corrupto. Trata-se de uma falsa crítica que valida a natureza corrupta do brasileiro como sendo a parcela do sangue lusitano que corre em suas veias. Esta pseudo crítica acerca do país coloca o Estado como o maior inimigo da nação, pois como ele é controlado por homens cordiais, é naturalmente corrupto.
Sérgio Buarque de Holanda (2006) pode ser considerado o “filósofo” do liberalismo conservador do Brasil, a proposta de “Raízes do Brasil” é construir categorias teóricas de análise que vão moldando o Estado brasileiro como patrimonial, propenso ao populismo e o brasileiro como servil e cordialmente aberto à corrupção, logo essas categorias vão sendo abordadas de forma falsamente crítica, sempre ligadas a um passado histórico e à herança ibérica (Souza, 2017, p. 134). Embora publicado no Rio de Janeiro em 1936, “Raízes do Brasil” (Holanda, 2006) tornar-se-ia uma das referências para o pensamento sociológico que estava sendo construído no amago conservador e elitista da Universidade de São Paulo. Da mesma forma Raymundo Faoro (2001) assume o papel de historiador do “liberalismo conservador”, pois cria a narrativa histórica necessária à consolidação do discurso “culturalista liberal” buscando a origem do Estado português unitário e a suposta transposição deste estado para o Brasil. Por meio de um texto erudito e de aspecto articulado e científico, acaba por povoar em convencimento os intelectuais e os leigos do Brasil contemporâneo.
A tese de Faoro (2001) é cristalina, pois se dedica a demonstrar o caráter essencialmente patrimonialista do Estado, e como consequência de toda a população brasileira. Esse patrimonialismo seria, ao cabo, a substância não democrática, particularista e marcada por privilégios os quais definem o poder político exercido no Brasil. Ao unir-se à proposta sociológica de Sérgio Buarque de Holanda (2006), o conceito de patrimonialismo passa a ocupar o lugar legítimo da escravidão e da luta de classes que se instaurou no Brasil a partir dele. Nas palavras de Souza (2017, p. 134): “A corrupção patrimonial substitui a análise das classes sociais e suas lutas por todos os recursos e materiais escassos”.
Faoro (2001) busca a comprovação da hipótese por meio de uma digressão histórica até à formação do Estado português no século XIV, supostamente este estado ao ser criado já possuía a imaterialidade patrimonial. A partir dessa linha do tempo é desenvolvido o argumento central da obra: o Brasil herda a forma do exercício do poder em Portugal (Souza, 2017, p. 134). Da mesma forma, Sérgio Buarque de Holanda (2006) atribui à herança ibérica as raízes da sociedade brasileira enquanto naturalmente corrupta, que justificaria a relação do Brasil com o exterior e a forma de modernização capitalista pela qual o Brasil se inseriu. Em outras palavras, a formação social brasileira é um retrocesso em relação à América do Norte e à porção civilizada da Europa, de onde se excluía a península ibérica, bem como o capitalismo se instaura no Brasil segundo os valores da compra de pessoas através do carimbo português da corrupção.
O que está sendo feito em nome da suposta continuidade com o estado português é a demonização do estado e o enaltecimento do mercado como puro, moderno e honesto. O mote da corrupção somente no estado pode ser acionado sempre que for necessário às elites tomarem o poder, é a essa historiografia que Faoro (2001) está se prestando.
A particularidade social brasileira é a forma como o Estado é tomado pelo discurso acadêmico e midiático, que visa estancar as grandes diferenças sociais, pois no Brasil existe uma separação social entre “gente e não gente”. A classe social formada pelos subproletariado foi entregue à própria sorte desde a abolição da escravidão e atualmente não é mais formada apenas por negros, mas também por mulatos e brancos que vivem abaixo da linha da pobreza. Quando essa classe recebe algum tipo de privilégio por parte do Estado, o patrimonialismo e a corrupção são acionados, pois já fazem parte do mito nacional como uma forma de redirecionar o Estado para a manutenção dos privilégios das elites, que não estão dentro do Estado, mas fora dele, no Mercado se apropriando de suas receitas para manter e ampliar seu patrimônio.
A perfeição moral aberta pelo cristianismo foi secularizada em proposições políticas para que se tenha na meritocracia a alavanca moral contra a corrupção. É por meio dessa construção que a classe média se torna massa de manobra e passa a flertar com o totalitarismo e até mesmo em pequenas camadas com o fascismo. As elites do dinheiro no Brasil compraram uma inteligência para formular uma “teoria liberal moralista” executada artesanalmente e sob medida para o público que se desejava orientar e manipular (Souza, 2017, p. 75). Essa compra ainda possui um aspecto semiológico nefasto, que passa pela eleição de autores e obras as quais devem ser reverenciados e aplaudidos pela mídia, o que deveria ser exclusivamente científico passa a ser científico midiático. Essa forma é devastadora para a manipulação da opinião pública e subjetiva.
Diante disso questiona-se: não é de uma covardia bocaina e podre delegar ao outro, neste caso ao português, a responsabilidade e a origem de um estado patrimonial que abarca em si a continuidade com a corrupção portuguesa? Onde está a alteridade de uma população ao não se questionar diante de tal fato? As redes sociais desde o ano de 2013 estão sendo alimentadas por essa farsa, estetizando-a em uma verdade bela e pura. O que está se passando por meio de imagens nas redes em relação à imagem do brasileiro como patrimonial e corrupto é assustador e terrível ao ponto de eleger o “terror” para governar o país em nome da higiene moral.
Fernando Augusto Silva Lopes é Secretário Municipal de Tecnologia da Informação em Contagem, gestor público e doutor em Estudos Culturais – Tecnologia da Informação pela Universidade do Minho
NOTAS
(1) É importante salientar que o algoritmo de busca retorna resultados diferentes em função do país de origem da busca e em função do usuário estar “logado” no navegador do Google.
(2) Página pode ser acessada pelo link: https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-patrimonialismo-brasileiro-como-faoro-explica-crise-atual/
(3)O Partido dos Trabalhadores (PT) é uma agremiação política em forma de partido, cuja origem remonta aos anos de 1980. Possui alinhamento ideológico de esquerda e de centro-esquerda. O PT foi o partido que elegeu o presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2003 e 2006 e a Presidente Dilma Vana Rousseff em 2010 e 2014.
(4) É espécie de fruta vermelha semelhante a uma uva, porém cresce em árvore frutífera endêmica do Brasil, da família das mirtáceas, nativa da Mata Atlântica (Mattos, 1983, p. 69).
(5) O movimento tenentista foi um movimento de reivindicação social, que pela primeira vez na história brasileira era formado pelos setores médios da sociedade, que expressava os anseios sociais de uma população urbana por melhores condições de vida. O movimento possuía uma classe militar rebelde que se manifestava por melhores condições para as casernas e um fortalecimento do exército brasileiro (Boris, 1996, pp. 112-143).
(6) O voto de cabresto é um mecanismo de orientação de voto em um determinado candidato na disputa de cargos eletivos, em que o poder econômico era exercido através da compra do voto, ou através da influência da máquina pública ou simplesmente pelo medo da morte em detrimento de ameaças. (Boris, 1996, p. 118).
REFERÊNCIAS
Adorno, T. (1977). A indústria cultural. In G. Cohn (Org.), Comunicação e indústria cultural. São Paulo: Editora Nacional.
Adorno, T. (1995). Educação e emancipação (W. L. Maar, Trad.). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Benjamin, W. (1992). Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio d’Água.
Bueno, E. (2016). Capitães do Brasil: A saga dos primeiros colonizadores (Vol. 3). São Paulo: Estação Brasil.
Faoro, R. (2001). Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro (3ª ed. rev.). São Paulo: Globo.
Boris, F. (1996). História do Brasil (4ª ed.). São Paulo: Edusp/FDE.
Freyre, G. (1990). Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Record.
Freyre, G. (2006). Casa-Grande & senzala. São Paulo: Global Editora.
Habermas, J. (2003). Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa (F. R. Kothe, Trad.). Rio de janeiro: Tempo Brasileiro
Holanda, S. B. de (2006). Raízes do Brasil: Edição comemorativa – 70 anos. São Paulo: Companhia das Letras.
Lopes, F. A. (2017). Imagem digital: Significação cultural do acesso virtual ao museu. (Dissertação de mestrado não publicada). Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, Brasil.
Lopes, F. (2012). Vinte anos de Televisão Privada em Portugal: Vinte nomes que marcaram o Audiovisual Português (1ª ed.). Lisboa: Guerra e Paz Editores.
Martins, M. L. (2003). Por uma democracia a vir: A televisão de serviço público e a sociedade civil. In M. Pinto (Coord.), Televisão e Cidadania: Contributos para o debate sobre o serviço público (pp. 7-10). Porto: Campos das Letras.
Martins, M. L. (2011). Crise no castelo da cultura: Das estrelas para os ecrâs. Coimbra: Grácio Editor.
Ianni, O. (1996). A Ideia de Brasil Moderno (2ª ed.). Brasília: Editora Brasiliense.
Pereira, S. (2011). Os estudos sobre televisão e crianças em Portugal. In J. F. Filho & G. Borges (Org.), Estudos de Televisão: Diálogos Brasil-Portugal (pp. 275-306). Porto Alegre. Editora Sulina.
Reis, D. A. (2004). O Estado à sombra de Vargas. Revista Nossa História, 1(7).
Ricco, F. & Vannucci, J. A. (2017). Biografia da Televisão Brasileira. São Paulo: Matrix Editora.
Sevcenko, N. (2010). História da vida privada no Brasil República: da Belle Époque à Era do Rádio (Vol. 3). São Paulo: Companhia das Letras.
Souza, J. (2017). A Elite do Atraso: Da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya.
Torgal, L. R. (2009). Estados Novos, Estado Novo: ensaios de História Política e Cultural (2ª ed.). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Weber, M. (1984). Economía y Sociedad: Esbozo de sociología compreensiva (2ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
Williams, R. (2016). Televisão: tecnologia e forma cultural (M. Serelle & M. F. I. Viggiano, Trad.). São Paulo: Boitempo.