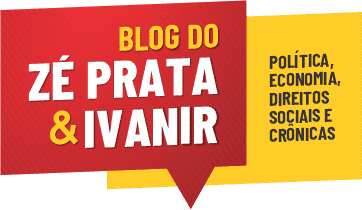A cultura não é neutra. Ela carrega valores, desafia estruturas estabelecidas e, com frequência, atua como ferramenta de resistência. No entanto, também pode ser apropriada como instrumento de dominação. Em tempos de retrocessos democráticos e de avanço de discursos autoritários, a cultura se reafirma como um território estratégico na disputa por narrativas, sentidos e pertencimentos.
Chico Mendes dizia que “Ecologia sem luta de classes é jardinagem.” O mesmo vale para a cultura. O fazer cultural, sem compromisso com a luta de classes, torna-se instrumento de dominação de narrativas por grupos opressores. Não é possível falar de cultura sem abordar desigualdade de classe, dominação da branquitude, privilégio das elites no acesso à arte, hegemonia acadêmica e a deslegitimação das expressões culturais diversas. A cultura é um campo acirrado de disputas.
Para que a potência da cultura seja plenamente realizada, é essencial reconhecer os trabalhadores da cultura como sujeitos políticos e agentes de transformação social. É preciso que esses trabalhadores estejam unidos e atuantes em prol da ação coletiva, e não apenas guiados por interesses particulares, centrados em projetos e ações voltadas para a ascensão individual. A cultura é movimento, é atuação coletiva, é luta!
A cultura não nasce do talento isolado, mas do esforço coletivo. E, sendo fruto de muitos, sua sustentação também deve vir de uma luta coletiva, ética e consciente. A organização do setor cultural não pode mais se limitar a postagens em redes sociais, grupos informais e promessas vazias. É preciso uma base sólida, enraizada nos territórios, com práticas que dialoguem com a realidade concreta das comunidades.
O campo cultural, porém, enfrenta contradições internas que precisam ser enfrentadas. Há quem, em nome da representatividade, centralize poder, domine narrativas e promova uma cultura autopromocional baseada em discursos decorados. Mas os projetos realizados falam por si: frágeis, repetitivos, copiados de colegas ou gerados por inteligências artificiais, sem contexto nem compromisso real. Essa lógica individualista mina a potência transformadora da cultura e afasta sua base social.
É urgente que os trabalhadores da cultura estejam organizados de forma coletiva, crítica e mobilizados em torno de ações transformadoras. Essa retomada, contudo, exige organização, escuta ativa, compromisso ético e, sobretudo, coragem para enfrentar os vícios estruturais que ainda contaminam o setor cultural.
No município de Contagem, os trabalhadores da cultura já protagonizaram importantes ações de resistência às amarras impostas pelo sistema. Houve presença marcante em Conselhos Municipais e na Câmara de Vereadores, inclusive com ocupação dos espaços e presença constante nas plenárias e sessões, demonstrando um passado de mobilização ativa.
Entretanto, nos últimos anos, a prática de enfrentamento e participação ativa nas instâncias de controle social vem sendo significativamente enfraquecida. A presença da classe artística no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que já foi espaço de intensos debates e mobilização expressiva, tornou-se praticamente inexistente. Esse mesmo Conselho já foi um dos principais espaços de articulação do setor cultural em Contagem, com envolvimento direto de artistas, produtores e coletivos diversos.
A mudança de cenário relaciona-se, em grande parte, ao expressivo aumento dos recursos destinados aos editais do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC) e à vigência da Lei nº 4.647/13, que proíbe conselheiros de participarem desses editais enquanto estiverem em exercício. Tal restrição, embora compreensível sob a ótica da ética pública, teve como efeito colateral o afastamento quase total dos agentes culturais do Conselho, priorizando a estruturação de projetos individuais em detrimento da atuação coletiva e estratégica.
É evidente que, como já alertava Karl Marx, as primeiras necessidades são do estômago, ou seja, as necessidades materiais imediatas como o sustento e a sobrevivência ocupam lugar central na vida dos trabalhadores. Nesse sentido, é legítima a busca por recursos para viabilizar projetos culturais e garantir renda. No entanto, é sintomático e preocupante que, diante desse dilema, a saída tenha sido o esvaziamento da representação da categoria em um dos espaços mais importantes de formulação de políticas públicas para a cultura.
Em vez de promover a total evasão, seria mais consistente e estratégico que o setor organizasse mecanismos de rodízio entre indivíduos e coletivos, assegurando a ocupação contínua e qualificada desses espaços de deliberação. A ausência da classe nos conselhos não apenas enfraquece sua capacidade de incidência política, mas também compromete a construção de uma cultura pública verdadeiramente democrática e participativa.
Enquanto isso, parlamentares de extrema-direita têm usado a tribuna para propagar discursos hostis e violentos contra o setor cultural, sem encontrar uma resposta à altura por parte dos trabalhadores da cultura. A ausência de mobilização organizada diante desses ataques revela uma preocupante desarticulação da classe.
A atual desmobilização do setor cultural torna-se ainda mais grave diante de casos explícitos de perseguição política e ideológica a artistas. Um exemplo recente e alarmante foi o ataque dirigido a uma artista trans, violentamente exposta, perseguida e alvo de injúrias apenas por declamar um poema em uma escola pública. A resposta da classe artística, infelizmente, foi marcada pelo silêncio e pela omissão: não houve protestos, mobilizações públicas, ocupações ou qualquer forma contundente de solidariedade coletiva. Limitou-se a algumas manifestações em redes sociais, com curtidas e postagens indignadas, mas sem desdobramentos concretos.
Embora alguns coletivos, sobretudo os ligados ao Hip Hop, tenham se posicionado com coragem por meio de denúncias públicas e postagens, a resposta mais ampla do setor foi tímida. Mesmo diante de um ataque claramente transfóbico e preconceituoso, não houve articulação robusta nem ações efetivas para proteger a liberdade de expressão e a pluralidade nas artes.
É profundamente lamentável que uma artista tenha de suportar tamanha violência e, mais lamentável ainda, é constatar a ausência de mobilização da classe para sua defesa. A omissão em casos como esse enfraquece todo o campo artístico e abre espaço para que práticas autoritárias se consolidem sem resistência.
De maneira contraditória, não é raro ver grupos de artistas se articulando para atacar a gestão progressista da prefeita Marília Campos, mas permanecerem em silêncio quando os ataques partem de vereadores homens, conservadores e de extrema-direita. Essa seletividade revela uma distorção perigosa: enquanto lideranças progressistas são desmoralizadas publicamente, os verdadeiros algozes da cultura sequer são nomeados nos atos e manifestações da categoria. Seria cômico, se não fosse trágico.
É preciso reconhecer as contradições internas do próprio setor. Apesar do meio artístico se apresentar como progressista, práticas machistas ainda persistem. Mulheres artistas continuam sendo subestimadas, hipersexualizadas ou relegadas a funções secundárias. Casos de assédio moral e sexual seguem sendo silenciados, muitas vezes em nome da “liberdade criativa” ou da reputação de figuras consagradas.
O mesmo vale para o enfrentamento ao racismo estrutural. Apesar do Brasil ser um país majoritariamente negro e com forte presença indígena, a indústria cultural ainda marginaliza corpos e narrativas racializadas. Os espaços de decisão, formação e visibilidade continuam sendo majoritariamente brancos — reflexo direto das desigualdades históricas que estruturam a sociedade brasileira.
Valorizar as produções afro-brasileiras e indígenas não pode ser um ato simbólico ou folclórico, mas sim uma política concreta de reparação. A presença de gestores, curadores e artistas negros e indígenas em todos os níveis do setor é essencial. Combater o racismo na cultura é promover uma democracia cultural mais verdadeira, plural e representativa.
A potência transformadora da arte reside justamente em sua capacidade de incluir, representar e acolher. Uma arte que não dialoga com as múltiplas vozes da sociedade tende a se tornar elitista, homogênea e distante. É essencial que pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, populações periféricas e outras identidades marginalizadas tenham visibilidade real na produção cultural.
A construção de uma cultura justa e democrática depende da organização coletiva de seus trabalhadores. Lutar por direitos, por condições dignas de trabalho, por reconhecimento e por práticas éticas é um compromisso inadiável. Essa luta precisa ser conduzida com firmeza, mas sem abrir mão dos valores que nos distinguem dos autoritarismos.
Diante de um cenário marcado por retrocessos democráticos, omissões estratégicas e contradições internas, o chamado “Trabalhadores da Cultura, uni-vos!” emerge como mais que um apelo: é uma convocação à responsabilidade histórica da classe artística. Não se trata apenas de resistir a ataques externos, mas de reconstruir o próprio campo cultural com base em ética, diversidade, solidariedade e compromisso político. A cultura, em sua essência, é ação coletiva e como tal, só poderá cumprir seu papel emancipador se for conduzida por sujeitos organizados, conscientes e dispostos a enfrentar tanto as opressões estruturais quanto os vícios do próprio meio. A urgência é agora e a transformação começa dentro das próprias trincheiras culturais.
Aniele Fernandes de Sousa Leão é doutora em Educação, pela UFMG. Mestre em Educação (CEFET), Especialista em Gestão de Projetos (USP); Graduada em História (UNIBH) e Pedagogia (UNINTER).