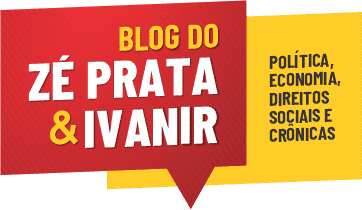(Sobre os velhos e os novos tempos sombrios, os “anos dourados” da democracia e a esperança na ação política)
Nossa primeira redemocratização data de 1945. O presidente e ditador Getúlio Vargas foi deposto por seus ministros militares no dia 29 de outubro daquele ano. Terminava a ditadura do Estado Novo. Aos 02 de dezembro, o ex-ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, que apoiara a deposição de Vargas, foi eleito presidente da República com 52,39% dos sufrágios dos 6,2 milhões de brasileiros aptos para votar. Representavam apenas 13,4% da população. Eleito com o decisivo apoio de Vargas e da coalizão PSD-PTB, partidos criados por Vargas meses antes de sua deposição, Dutra comprometera-se a preservar o legado dos direitos sociais e trabalhistas e entregar o Ministério do Trabalho ao PTB. Seguiram-se a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte e a aprovação e promulgação da Constituição de 1946. Desfrutaríamos época de dezenove anos de democracia, todavia assediada por três frustradas tentativas de golpes militares (1954, 1955, 1961), por uma tumultuosa renúncia de um presidente eleito (Jânio Quadros, em agosto de 1961), um breve e artificialíssimo interregno de parlamentarismo, um “arranjo” despossuído de legitimidade e de verdadeira institucionalidade, seguindo-se, consequente a um plebiscito (06/01/1963), o restabelecimento em plenitude do presidencialismo de coalizão não multipartidário. Desfrutáramos de quase duas décadas de sonhos e de realizações frequentemente paradoxais de desenvolvimento nacional, reformismo, modernização e aspirações de justiça social. A ousada e proficiente execução de quase 90% do Plano de Metas do presidente Juscelino Kubistchek (1956-1960) convivera placidamente com a pantagruélica escassez de recursos destinados à educação básica, vez que não havia oferta de “curso ginasial” público e, menos ainda, de ensino médio público!
Aqueles idos assinalaram época e épica de acelerada modernização, urbanização, industrialização, transição do país rural ao urbano, migrações de uma até então oculta e avassaladora pobreza rural a uma situação daí em diante de escancarada pobreza urbana, contudo esperançada, movimentos e lutas sociais intensas, Ligas Camponesas e sindicalismo em ação no campo, e, nas cidades, coordenação sindical e trabalhista do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), opulência cara a cara com as desigualdades e uma expandida favelização urbana, afluência e exploração, ideologia do nacional-desenvolvimentismo confrontado por reacionarismo civil-militar golpista, governos progressistas e alianças políticas pluriclassistas em torno de um projeto de Nação, reformismo social e econômico combinado com a permanência latifundiária do Brasil arcaico, construção de Brasília e exclusão dos “candangos” de um lugar ao sol urbano no território da nova e magnífica capital federal por eles edificada, expansão da fronteira agrícola e interiorização inicial do Centro-Oeste e do Norte do país, organização da cultura em torno da ideia de uma identidade nacional-popular, inovação artística e fermentação cultural demarcadas pela aurora do Cinema Novo, da Bossa Nova e do Teatro de Arena, e pela atuação fortemente reformista dos Centros Populares de Cultura e do Instituto Superior de Estudos Superiores (ISEB). Enfim, os nossos adoráveis e tão intensamente paradoxais “anos dourados” de democracia. Seja como for, de grandes feitos e de notáveis ausências assim transcorreram os dias e os anos daquela frutuosa década de 1950, até, na década seguinte, aqueles funestos idos de março de 1964. Em nota fúnebre, a mais notável, historicamente devastadora, avassaladora e inaceitável ausência foi a geral renúncia ao imperativo da resistência ao golpe militar. Cair sem luta não é nada edificante! Não há virtude alguma na abdicação de um dever.
Aquela época democrática, que, em geral, foi uma épica, seria aviltada e brutalizada pela ditadura militar de 1964 a 1985, consequente à “ferocia” das classes dominantes e dos militares e ao déficit de “virtù” política das lideranças democráticas, populares e reformistas. Encerrara-se o que seria o nosso primeiro ciclo de “anos dourados” de liberdade, esplêndida criatividade, progressismo e civismo democrático. Nossa jovem democracia não aprendera o caminho que a conduzisse à própria consolidação institucional, política e social. Eram tempos de “Guerra Fria”, de acirrada polarização político-ideológica, e, predominantemente, de bipolarização ideológica geopolítica.
A primeira resistência à ditadura: revolução ou a democracia como ideia fora do lugar
Quarenta anos após o agitado florescimento da primeira redemocratização (1945), o esgotamento da ditadura militar de 1964 e a força e eficácia da resistência democrática de nossa sociedade civil renascida demarcaram, em 1985, a conquista da segunda redemocratização. A posse do presidente José Sarney na presidência da República sugerira uma transição pactuada entre elites políticas, empresariais e militares, “pelo alto”, sem ruptura social. Os mais conservadores queriam um Congresso Constituinte. Entretanto, a sociedade civil ocupara as ruas do Brasil durante a campanha nacional pelas “Diretas Já”, em 1984. Das ruas não sairiam. A partir das ruas, a sociedade civil logrou agendar e estabelecer predominante influência na Assembleia Nacional Constituinte, distinta do Congresso ordinário. Em perigos e lutas, esforçado, o povo brasileiro protagonizou as nossas adoráveis resistências, da revolucionária (os “anos de chumbo”, de 1969 a 1973) à democrática, essa, a partir de 1974. Decisivamente, a resistência democrática haveria de escrever a Constituição de 1988 e de dar voz e vida aos 25 anos dourados de democracia, de 1988 a 2013. Das Jornadas de Junho de 2013 em diante, e até o 08 de janeiro de 2023, as sombras desceriam sobre o abismo!
A primeira de nossas resistências, civil e desarmada, adquirira a fisionomia geral, extensiva a todo o território e com centralidade nas capitais dos estados, de uma série de grandes passeatas estudantis, nos idos de 1966 a 1968. Reuniam universitários, liderados pela União Nacional dos Estudantes (UNE), as UEE estaduais, e, em cada capital e em cidades de médio porte, os Diretórios Centrais de Estudantes (DCEs), a culminar, nas faculdades, com a ação dos Diretórios ou Centros Acadêmicos (DAs). Naquela ocasião, o movimento estudantil universitário exercera irresistível atratividade sobre os jovens “secundaristas”. Estes eram liderados pela sua entidade nacional, a UBES, e, em cada escola, pelos Grêmios Estudantis. Essa primeira resistência foi uma épica. A coragem moral e física e o espírito de revolta geraram, além das passeatas, criativas “formas de luta” como comícios-relâmpago, panfletagens e pixações de “palavras-de-ordem”, destacando-se a consigna “Abaixo a Ditadura”, fixadas a tinta de spray nas laterais dos ônibus urbanos de passageiros, em tudo semelhantes aos modernos outdoors de propaganda, porém, com a vantagem comparativa de gratuitamente circularem nas capitais por grandes percursos até que as polícias, a política (DOPS) e a militar, recolhessem às garagens e apagassem os nossos outdoors sobre rodas.
A épica da resistência estendera-se das universidades às ruas, dessas ao chão de fábrica operário, e, daí, de volta às ruas. Primeiro, em Belo Horizonte e Contagem, em abril de 1968, à frente o Sindicato dos Metalúrgicos dessa base territorial, em luta econômica ou específica contra o “arrocho salarial”, e, a um tempo, em luta política contra a própria ditadura militar. Em julho, o protagonismo operário e sindical replicaria na cidade operária de Osasco, em São Paulo, onde uma grande greve de metalúrgicos, com ocupação de fábricas, seria violentamente reprimida pela Força Pública militar e pelo Exército. Da luta econômica combinada à luta propriamente política, da fábrica à greve e da greve às ruas, até a formação de uma incipiente e idílica aliança operário-estudantil, avolumara-se a luta política contra a ditadura, ainda com apoios nas classes médias modernas e emergentes. A ditadura militar alarmara-se com o experimento mineiro de uma aliança operário-estudantil. Os estudantes também estavam conquistando o apoio discreto das classes médias urbanas. A grande imprensa escrita, de rádio e de televisão ainda desfrutava de liberdade de informação para noticiar local e nacionalmente os acontecimentos. De fato, o Movimento Estudantil assumira a liderança das oposições à ditadura. Os partidos políticos – PSD, PTB e UDN – da democracia competitiva anterior ao golpe militar haviam sido proscritos. O regime militar recentemente pusera na ilegalidade a chamada “Frente Ampla” de oposição, liderada pelos ex-presidentes da República Juscelino Kubitschek (1956-1961) e João Goulart (1961-1964), e pelo tradicional líder da extrema direita civil e golpista, Carlos Lacerda, em circunstancial e idiossincrática migração à oposição aos militares.
Com efeito, atos institucionais haviam sido decretados pela ditadura suprimindo a eleição direta para presidente, antes agendada para 1965. Na ocasião, a supressão da eleição direta para governador de Estado foi um revide à vitória eleitoral, em 1966, de dois governadores da oposição moderada, na Guanabara, Negrão de Lima, e, em Minas Gerais, Israel Pinheiro. Seguiu-se mais uma razia de cassações de mandatos de parlamentares do MDB, a moderada oposição partidária parlamentar e eleitoral. Formava com a governista Arena o bipartidarismo eleitoral autorizado e controlado. Nesse contexto de escalada repressiva e de aprofundamento gradual do autoritarismo, restava alguma legalidade, como o sobrevivente instituto do habeas corpus e a liberdade de imprensa. O movimento estudantil intensificara suas mobilizações nacionais e regionais, radicalizando-se em luta decidida contra a ditadura. Organizara-se e fortalecera-se notavelmente em todo o país continental no biênio 1967-1968, embora o número de universitários no país, em instituições públicas e privadas, não alcançasse os 300 mil. A partir das grandiosas passeatas de abril e maio de 1968 a repressão policial-militar passou a usar armas de fogo e a matar estudantes nas ruas. Os confrontos físicos intensificavam-se e os IPMs (inquéritos policial-militares, presididos por coronéis da “linha dura” do Exército) assinalavam a crescente radicalização da ditadura.
Além do experimento mineiro de uma heterodoxa aliança estudantil-operária, no país as ruas e os teatros haviam consagrado uma sólida aliança entre estudantes e artistas. Na cena geral da resistência emergira a figura do “padre de passeata”, os poucos clérigos que, em atos, repeliam o alinhamento histórico da igreja católica com a ditadura militar. Entretanto, em Medellín, Colômbia, a Conferência Episcopal para a América Latina (CELAM) acabara de estabelecer para a igreja católica latino-americana o novo cânone da opção preferencial pelos pobres e a ideia de um “povo de Deus” em esperança na ação para aqui realizar o “reino”, segundo a Justiça. A igreja católica latino-americana iria sair do estado abdicante de “bela adormecida” e abandonar o prevalente silêncio obsequioso face à ditadura. Padres começavam a ser perseguidos, ainda em 1968. Os congressos da UNE, em 1966 e 1967, assim como o congresso da UEE-MG, em 1968, foram realizados clandestinamente em seminários, conventos e colégios católicos. As oposições expandiam-se orbitadas em torno do Movimento Estudantil. Então, a ditadura elegeu o movimento estudantil como o inimigo público número 1, a ser aniquilado. A repressão às passeatas passaria a ser executada a tiros e assassinatos, nas ruas.
No plano internacional, a Guerra do Vietnã encontrava-se no auge. A “Ofensiva do TET”, em janeiro de 1968, havia sido transmitida globalmente pela TV. Prenunciava-se a derrota militar do “imperialismo” norte-americano frente a um povo camponês determinado e revolucionário, liderado por Ho Chi Min e pelo general Nguyen Giap. As guerras e as lutas de resistência de libertação nacional haviam feito desaparecer do mapa geopolítico o domínio secular do colonialismo. Na Argélia, em 1962, a Frente de Libertação Nacional derrotara o colonialismo francês. Formara-se um presumido Terceiro Mundo supostamente independente e de inclinação socialista. O sonho da imaginação e o desejo então estabeleceram que o Primeiro Mundo, integrado pelos países capitalistas centrais, encontrava-se em irrevogável decadência, em estado crepuscular de crise estrutural e agônica. O sonho da paixão pela revolução fixara como realidade a ficção segundo a qual, afinal, o capitalismo estaria vivenciando a sua derradeira e crepuscular fase de crise terminal e agônica, atestada em uma dada como certa derrota do imperialismo norte-americano por um exército popular de camponeses no Vietnã. A vitória da Revolução Chinesa, em 1949, revelara ao mundo a existência de um campesinato como classe revolucionária, ao invés do “saco de batatas” amorfo, assim descrito por Marx precisamente um século antes em seu célebre livro sobre as lutas de classes na França. Na China revolucionária, a estratégia da guerra revolucionária consistira no “cerco das cidades pelo campo”. Lá, o campesinato pobre emergira como “a segunda classe revolucionária”.
Por analogia, imaginava-se o cerco mundial do capitalismo central pelas periferias subdesenvolvidas ou estruturalmente dependentes, doravante e irrevogavelmente em estado revolucionário de lutas de libertação nacional anti-imperialistas ou, imediatamente, em luta revolucionária pelo socialismo. O sonho da imaginação revolucionária latino-americano imaginara que a região se encontrava irrevogavelmente em um dilema do tipo “ou … ou”, sem terceira alternativa. Assim: face à pobreza, à superexploração e ao “subdesenvolvimento” ou dependência estruturais, ou: revolução, igualdade e desenvolvimento, ou: contrarrevolução, preventiva ou reativa, e seu corolário, ditaduras militares permanentes a serviço do imperialismo. Na América Latina, acreditava-se e creditava-se que a Revolução Cubana, de 1959, declarada socialista em 1961, estabelecera-se como o exemplo edificante de libertação contra o “inimigo comum”, o “imperialismo”. O Terceiro Mundo seria o “elo mais fraco” da cadeia de dominação do imperialismo, em escala planetária. Daí a ideia, originária de Cuba e de autoria de Ernesto Che Guevara, da continentalidade, atualidade e exigência da revolução na América Latina como o único caminho de libertação e como uma revolução permanente, continental. A recém-criada e um tanto sombria “teoria marxista da dependência”, na linhagem do triunfalismo ideológico, havia sido amplamente adotada como a “economia política” da revolução. Em poucos anos adiante, seria adotada como a economia política da nascente e também latino-americana Teologia da Libertação. O sermão guevarista predicava, que, ao modo da vanguarda cubana liderada por Castro e Guevara, que uma pequena vanguarda armada revolucionária seria o fator desencadeador do processo da revolução social pelo método da guerra de guerrilhas. O clássico partido político operário e popular da revolução havia sido reduzido a nada. Lênin e Marx tornaram-se profetas banidos pelo entusiasmo com o fragor das armas e a presumida onipotência das guerrilhas. A guerra de guerrilhas de vanguarda irrompera como o verdadeiro partido em armas. A ação propriamente política entrara em desuso. O fuzil comandaria a política. Esse era o sermão!
A época amava a revolução. De modo igual e contrário, direitas, classes dominantes, militares e a geopolítica amavam a contrarrevolução. Revolucionários desdenhavam a democracia; contrarrevolucionários odiavam a democracia. Aqueles eram tempos de “Guerra Fria” planetária. O voluntarismo e o triunfalismo libertário dos jovens estudantes revolucionários, invariavelmente ocupando as lideranças do movimento estudantil brasileiro em todos os estados, iria encontrar em texto de Guevara, “Guerra de guerrilhas: um método”, de 1963, e em um opúsculo do intelectual francês Régis Debray, “Revolução na revolução?”, de 1966, a preferencial e a mais rápida entre duas vias concorrentes de realização do sonho da revolução: a guerra de guerrilhas. A outra, a maoísta, em referência ao líder da Revolução Chinesa Mao Tsé-Tung, sustentava a ideia política clássica da preeminência do partido político, a preeminência da política sobre o fuzil, a formação de uma aliança operário-camponesa, e, portanto, a imersão, primeiro, nas lutas sociais populares, a organização da classe operária, a formação do partido do proletariado. Isso estabelecido, seguir-se-ia, como um corolário, a formação do exército popular revolucionário e, isso estabelecido como premissa, a passagem à guerra revolucionária.
Tanto os guevaristas, em maioria entre os líderes estudantis, quanto os minoritários maoístas, ocupavam em plenitude o seu tempo integral dedicados ao movimento estudantil de lutas reivindicatórias e de luta política aberta contra a ditadura, assim como à preparação para “fazer” a revolução. Organizações revolucionárias de tipo “político-militar” proliferaram. Centenas de jovens revolucionários iriam romper com o “acomodado” e “conservador” Partido Comunista Brasileiro, o “partidão”, acusado de haver abdicado da revolução e de a trocar pela burguesa democracia. Vista e acusada de burguesa, de ideologicamente mistificadora e de se estabelecer como uma barragem para atrasar o advento inexorável da revolução, a democracia havia sido desterrada e sentenciada como ideia fora de lugar e época.
Aos 12 de outubro de 1968, a prisão de cerca de mil líderes estudantis nacionais e regionais, resultante do cerco policial-militar ao local rural onde se realizaria o 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, São Paulo, irrompera com a força destrutiva de um antecipatório AI-5 da ditadura militar contra o movimento estudantil ascendente, de massas e de lutas, radicalizado. Terminava, ali, a épica da resistência civil do movimento estudantil em luta política e “de massas e de rua” contra a ditadura. A imposição do AI-5, aos 13 de dezembro de 1968, consequente ao controle do poder militar e de Estado pelos militares da chamada “linha dura”, ou a radicalização da ditadura dentro da ditadura, iria selar o fim das lutas de massas e de ruas e a passagem dos líderes e dos estudantes mais destemidos da geração dos jovens universitários revolucionários, a geração de 1968, de “malas e bagagens” à luta armada de guerrilha contra o regime militar. Apenas iniciada em 1968, intensificada em 1969, nesse mesmo ano, em rápida escalada, logo submetida a cerco policial-militar de aniquilação, a luta armada revolucionária resultaria em uma agônica aniquilação militar de uma geração de jovens revolucionários. “Ousar lutar, ousar vencer!”, proclamaram. A aniquilação estender-se-ia até 1973. O período ficaria conhecido como os “anos de chumbo”.
A geração libertária e revolucionária de 1968 seria militarmente aniquilada pelo Exército e o Sistema DOI-CODI de sequestros, torturas, “desaparecimentos” e simulações de falsos “confrontos”. A ordem dos generais era “matar”. Improvisáramos uma luta absurdamente desigual. Do amadorismo à mais completa ausência de meios (infraestruturas, armamentos e munições, “aparelhos” ou logística de proteção, rede de informação e de comunicação, inserção social para proteção e “recrutamento” de novos quadros), bastaria uma Polícia Federal competente e investigativa para estabelecer a completa derrota das organizações guerrilheiras. Naquela mesma década de 1970, assim iria ocorreria na Itália e na Alemanha, sob democracias inabaladas. Sob a democracia, os governos daqueles países realizaram o combate às guerrilhas urbanas, conforme a lei e a legalidade constitucional, e lhes impuseram completa derrota, respectivamente, das Brigadas Vermelhas e do Grupo Baader-Meinhoff. Na Europa, as guerrilhas degeneraram-se em terrorismo.
Aqui, intencionalmente as Forças Armadas agigantaram o poderio das guerrilhas, maximizaram a existência de uma “avassaladora” guerra revolucionária para melhor perpetuarem-se no poder, como uma ditadura permanente. As guerrilhas encontravam-se completamente desprovidas de qualquer poderio. O seu erro estratégico foi colossal: socialmente isoladas pelo recrudescimento da ditadura, abdicou da ação propriamente política pelo descaminho do militarismo ou do “vanguardismo”, ao invés de se decidir por um “recuo estratégico” para acumular forças, organizar molecularmente a reinserção social entre as classes populares, e, à maneira de Robin Hood, delimitar as ações armadas à arrecadação de fundos na forma de cirúrgicas “expropriações” de dinheiro acumulado ilegalmente por corruptos, sonegadores e fraudulentos, como no célebre e bem-sucedido caso do roubo do “cofre do Adhemar de Barros”, com afortunados US$ 2,6 milhões apropriados pela guerrilha urbana. Seja como for, caímos lutando!
A segunda resistência: democracia ou a revolução como ideia fora do lugar
Formada basicamente por universitários, a jovem geração de revolucionários foi torturada, assassinada, “desaparecida”, militarmente aniquilada, restando aos sobreviventes salvarem-se no exílio, no período de 1969 a 1973. Sequestros de diplomatas foram recorrentemente utilizados como meio para salvar da prisão, da tortura e da morte algumas centenas de guerrilheiros urbanos. Em troca da liberdade dos embaixadores estrangeiros sequestrados pelas guerrilhas, presos políticos foram “expulsos” do país e transportados em aviões para o Chile, Argélia e México. Nos exílios formaram-se diásporas de desterrados. A maioria aguardaria a volta ao país em 1979, um ano após o fim do AI-5, quando foi decretada pelo regime militar a anistia “ampla, geral e irrestrita”. Assim torturadores e assassinos de presos políticos seriam, também eles, “anistiados”.
Entretanto, a maioria dentre os presos políticos recebera penas de prisão de até cinco anos. Até 1974, cumpridas as penas, quase todos já haviam sido postos em liberdade, sob vigilância da polícia política, da Polícia Federal e do Serviço Nacional de Informação (SNI). Ao tempo dos governos dos generais Garrastazú Médici e Ernesto Geisel, a implementação, sequenciada em duas etapas, do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), de fato inspirado na máxima “Cinquenta anos de progresso em cinco anos de governo” e no êxito do governo democrático e desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, resultou em uma forte ampliação do “capitalismo de Estado” como um marcador do nacionalismo, e, ao mesmo tempo, demarcador do ambicioso despotismo dos militares em posição de “donos do poder”. Fez-se acelerada e expandida penetração do capital estrangeiro na economia brasileira. O gigantesco endividamento interno resultaria em elevação das taxas de juros e da inflação, sobretudo a partir do primeiro “choque (externo) do petróleo” (1974). O ciclo expansionista seria interrompido a partir do primeiro choque nos preços internacionais do barril de petróleo. O regime autoritário-tecnocrático seria surpreendido por um enorme revés político-eleitoral em 1974, quando o MDB, a “oposição consentida”, ultrapassou largamente os limites do “consentimento” e elegeu pelo voto direto dois terços dos novos senadores (dezesseis de vinte e quatro cadeiras), naquele pleito. A imprensa escrita, até então censurada, começaria a romper o cerco estabelecido de dentro das redações dos grandes jornais. As novas classes médias técnico-profissionais afluentes haviam registrado, no voto, a sua inquietação e inconformismo.
Saída das prisões e, gradualmente, de retorno dos exílios, aquela jovem geração de revolucionários engajara-se na resistência democrática, em formação. Aqueles foram os anos de aprendizado sobre a democracia como um valor universal, antes por eles enxergada como fraude ideológica e mistificação, vez que sentenciada como sendo nada mais que um comitê central das classes dominantes para a contenção das lutas de classes e do processo da revolução socialista. As leituras dos textos de estilo manual de Ernesto Guevara e Debray foram substituídas pelo estudo das obras dos italianos Antônio Gramsci e Norberto Bobbio, assim como pela literatura dos cientistas políticos Guillermo O’Donnell, argentino, Juan Linz, espanhol, o sociólogo brasileiro Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer e diversos outros autores reunidos no Centro Brasileiro de Estudos (CEBRAE). A ciência política acadêmica e profissional ocupara-se de investigar e desenvolver estudos comparados sobre a origem, organização e funcionamento de regimes autoritários, assim como de estudar as transições do autoritarismo à democracia. Saíra de cena a revolução. Doravante a cena seria ocupada pela triunfal democracia. Na América Latina, à exceção de Colômbia, Venezuela e Costa Rica, todos os países encontravam-se sob ditaduras, ainda. Entretanto, do outro lado do Atlântico, na Europa, na península ibérica, caíam as longevas ditaduras de Portugal e da Espanha, e, nos Balcãs, o regime dos coronéis, na Grécia.
Em aprendizados e superação, saída das prisões ou de volta ao seu país, aquela jovem geração de revolucionários descortinara nos exílios, nos intercâmbios com outras culturas políticas e nos debates e em estudos e pesquisas, uma outra perspectiva para a ação: a ação coletiva propriamente política. A paixão pela Revolução cederia, não sem uma certa sofreguidão e estranhamento psíquicos, seu antes triunfalista e indisputado lugar a uma nova e mais discreta e educada paixão, a recém-descoberta paixão pela política. O diferencial ficaria demarcado na permanência e primazia da irrenunciável paixão social por igualdade e justiça. Assim, cultura política democrática e cultura política socialista tiveram o seu encontro marcado nos corações e mentes daquela notável e destemida geração de gigantes. Saía de cena o titanismo revolucionário. A política resgatara seus direitos e proeminência. Em aprendizado, gradualmente os revolucionários iriam internalizar a paixão pela democracia como um valor universal. Foi assim que imediatamente após os “anos de chumbo” (1969-1973) a resistência à tirania passara da crítica feita com armas à arma da crítica pela ação coletiva política. A geração guerrilheira descobrira a política. A épica das resistências prosseguiria sob nova forma, novas ideias, novas paixões.
Formava-se o campo do progressismo, a ideia de que uma sociedade melhor é possível pela via da ação coletiva política pela democracia e para a sua consolidação constitucional e institucional. O campo democrático agruparia esquerdas, centro democrático, centro-direita liberal-democrática. Entretanto, desconfiada do “jogo eleitoral” e do receptivo e acolhedor MDB e sua expandida ala dos “autênticos”, os militantes de esquerda “costeavam o alambrado” do MDB e das eleições parlamentares, apoiavam candidatos mais progressistas, contudo, sem penetrar ou jogar diretamente o jogo das eleições. A paixão social ainda predominava, quase soberana, sobre a recém-adquirida e tímida paixão pela política. Com efeito, as novas esquerdas agruparam-se preferencialmente em torno dos jornais por elas criados. Essa iniciativa ficaria conhecida como “imprensa independente”. Inspirara-se no precursor “Pasquim” (1972) e no jornal Opinião (1974). Os novos destaques, às esquerdas, ficariam por conta de jornais como “De Fato”, em Belo Horizonte (1976), “Movimento”, de 1975 até 1982, nacional, e, também nacional e editorialmente alinhado à ideia da formação de um partido político de trabalhadores, o jornal “Em Tempo” (1978), o primeiro a publicar uma lista de torturadores de presos políticos, com 444 nomes de policiais e de militares. Na segunda metade da década de 1970 floresceram o novo sindicalismo operário e o novíssimo sindicalismo das classes médias assalariadas, além de incluir os emergentes movimentos sociais provenientes do mundo dos socialmente até então invisíveis cidadãos residentes nas periferias das nascentes regiões metropolitanas do país. Crescimento econômico e pobreza urbana descreviam o capitalismo brasileiro desigual e combinado. Ao mesmo tempo e em diferentes regiões metropolitanas, no país, militantes de esquerda agruparam-se e atraíram contingentes de estudantes universitários para uma nova prática de jornalismo investigativo, de formação e de encorajamento à organização coletiva sindical ou comunitária, em bairros pobres de periferias urbanas. Em Belo Horizonte surgiram, em 1975, o Centro de Estudos do Trabalho (CET), com apoio dos jesuítas, e o Jornal dos Bairros, um e outro dirigidos por ex-presos políticos, respectivamente, João Batista Mares Guia e Nilmário Miranda, antes vinculados à luta armada contra o regime militar.
Uma vez mais, a sociedade civil
Desde a queda da ditadura do Estado Novo (1937 a 1945), pela segunda vez no país, na década de 1970, sob a ditadura militar, contra ela e pela democracia, florescia a sociedade civil. Florescera nas periferias metropolitanas pobres, nas comunidades eclesiais de base (CEBs) sob as asas protetoras da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nos recém-criados clubes de mães e em associações de bairro, nas oposições sindicais operárias e nos sindicatos de trabalhadores, em clubes de futebol associados à ação coletiva comunitária pela melhoria das condições de vida nos bairros pobres, nos comitês de luta contra a carestia, na organização de sopões de combate à fome, ao tempo em que, na esfera das classes médias urbanas metropolitanas, começavam a vicejar, a partir de 1976, além do novo sindicalismo de chão de fábrica, a organização e a filiação sindical de trabalhadores muito especializados, com educação superior, das classes médias, como médicos, enfermeiros, engenheiros, policiais e delegados, jornalistas, eletricitários, e assim por diante, em escalada. Desde a vitória do MDB, em 1974, florescera uma difusa e intensa animação política e eleitoral abrigada nesse partido ônibus e único das oposições em luta política pelo fim da ditadura e pela democracia. O jornal Movimento foi pioneiro ao “levantar a bandeira” editorial da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ao tempo em que, no país, passavam a atuar Comitês de Luta pela Anistia, movimentos em defesa dos Direitos Humanos e um intenso protagonismo de instituições da sociedade civil como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e suas seções regionais.
Formava-se o progressismo como um movimento civil e societário, unido. Na “ordem do dia” e da unidade das oposições democráticas, além do clamor pela Constituinte e pelas “liberdades democráticas”, agigantara-se a luta pela Anistia dos presos políticos e pela volta dos exilados ao país. Exigia-se a extinção do AI-5. Entrementes, no alto da cordilheira do protesto e da resistência política em organização, emergiria do mundo do trabalho, do chão de fábrica, como resultado de uma lenta e molecular ação coletiva de organização de base, o novo sindicalismo operário. Com ele, novas lideranças sociais e sindicais. Entre essas, um certo pernambucano de Garanhuns, líder das greves da época (1978 a 1980), iria despontar como liderança nacional. Preso pela ditadura, em seguida consagrado também como líder político, tomado de paixão social proveniente da alma e da origem de classe, descobrira a necessidade da luta política. Nela introduziu a paixão social, a luta por mais igualdade. Foi assim que um certo Lula associaria à luta política pela democracia a inseparável luta pelo reformismo social a ser alcançado pela via democrática. Com ele, a luta de classes prosseguiria no caudal do reformismo democrático. Em Minas, destacara-se um novo líder sindical e operário, em João Monlevade, João Paulo Pires Vasconcelos.
Assim, a nova década sucedeu a anterior. As esquerdas socialistas aprenderam e internalizaram que socialismo sem democracia é tirania, e que a “ditadura do proletariado” nada mais é senão ditadura e com viés totalitário. A ditadura militar ingressara em uma fase irrevogável de ruína moral e de acumulação de crises. Começava a cair, de dentro para fora, e, pela pressão social e política, de fora para dentro. O então ditador, o general Ernesto Geisel, foi o primeiro a se convencer disso: sob a ditadura, as Forças Armadas iriam destruir as Forças Armadas. Daí, a chamada “distensão lenta, gradual e segura”, em busca de uma “saída” civil, conservadora, “pelo alto”. Entretanto, classes médias e classe operária moderna começavam a experimentar a unidade pela democracia. Empresários começavam a se deslocar para fora do bloco histórico que originariamente dera sustentação de elite à ditadura militar. As ditaduras latino-americanas começavam a cair, uma a uma, em tombamento contínuo semelhante à fileira em queda das pedras de dominó.
Em 1978, a luta democrática conquistara o fim do AI-5. No ano seguinte, a Anistia, o pluripartidarismo, a liberdade sindical, algumas liberdades e direitos civis e políticos, acrescidas da volta das eleições para governador (1982). Seja de volta dos exílios, seja pelo florescimento nas lutas políticas na resistência democrática aqui no país, no início da década de 1980 o país projetara uma notável e portadora de futuro seleção de grandes líderes políticos democráticos, entre liberais e reformistas, de duas gerações distintas. Alguns retornaram dos exílios; outros, da resistência projetaram-se à liderança política, por assim dizer, de dentro do sistema político e pluripartidário emergente. Ex-exilado, Leonel Brizola (PDT) foi eleito, em 1982, governador do estado do Rio de Janeiro. Pelo MDB, foram eleitos Franco Montoro, em São Paulo, José Richa, no Paraná, e Tancredo Neves, em Minas Gerais. De fora do sistema político-eleitoral competitivo, proveniente das lutas e dos movimentos sociais, a única liderança política de expressão nacional era Luís Inácio Lula da Silva. Havia liderado a fundação do Partido dos Trabalhadores, em 1980, um partido de novo tipo surgido de fora do sistema político, pela sociedade, entranhado nos movimentos sindicais e sociais emergentes. Apenas iniciava os seus passos.
Da campanha das Diretas Já à transição
Em 1984, o deputado federal Dante de Oliveira, do MDB de Goiás, apresentara projeto de emenda constitucional dispondo sobre a eleição direta para presidente da República. A agenda de transição política da ditadura estabelecera para 1985 a eleição indireta do presidente pelo Colégio Eleitoral. Paulo Salim Maluf, filho político da ditadura e notabilizado pela corrupção ampla, geral e irrestrita, era o candidato oficial da ditadura. O país apaixonara-se pela “Campanha das Diretas Já”. Naquele ano da graça de 1984, em torno dessa bandeira amalgamara-se uma esplêndida, nacional e popular frente ampla pela democracia. O povo tomou as ruas e as ruas tomaram o país. A coesão social cristalizava-se na aspiração à democracia. As “Diretas Já” não passaram. Entretanto, perdemos, ganhando: Tancredo Neves derrotara Maluf e a ditadura no próprio terreno minado da ditadura, o Colégio Eleitoral. A morte de Tancredo ensejou a oportunidade a José Sarney, o vice na chapa. Todavia, o país não sairia das ruas.
Da resistência à queda da ditadura; daí, à ofensiva pela Constituinte
Falava-se em transição “pelo alto” ou “transição conservadora” pactuada entre as elites políticas da resistência democrática e as dissidentes do antigo regime, e entre essas elites civis e os militares perfilados à linha de uma “transição lenta, gradual e segura”, a estratégia que havia sido concebida pela dupla Geisel-Golbery. De fato, meio copo d’água cheio, como queria a transição longe das ruas, e meio copo d’água vazio, que seria preenchido de fora do sistema político e apesar das elites políticas pela voz organizada da sociedade civil e dos novos movimentos sociais e sindical, nas ruas. A CUT havia sido fundada. Poucos anos adiante, em 1985, do campo surgira o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em luta nacional pela reforma agrária, cooperativismo e apoios à daí em diante florescente e promissora “agricultura familiar”. Queria pôr a reforma agrária na Constituição. Iria conseguir. Entretanto, pelas ruas foi deflagrado o processo de mobilizações pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana. A resultante, a Constituição de 1988, chamada Constituição Coragem ou Constituição Cidadã, consagraria os novos, amplos, democráticos e republicanos direitos individuais e coletivos, sociais, civis e políticos, além de constitucionalizar, para a política instituir, o estado de bem-estar social e a reforma agrária. O progressismo de centro-esquerda preponderara na Constituinte congressual, porém, soberana, vez que distinta e separada do parlamento ordinário. As esquerdas pactuaram com o centro a “Constituição dos Miseráveis”, expressão da lavra cirúrgica de Ulysses Guimarães. À época, direita e ditadura eram sinônimos. Um conservador passara a sentir vergonha de se assumir como de direita, mesmo se de direita democrática. O centro do espectro político permaneceria por muito tempo superpovoado de partidos e de parlamentares. Abrigava de democratas conservadores a políticos semileais à democracia. Abrigava, até mesmo, verdadeiros centristas.
Os “anos dourados” da democracia: de 1988 a 2013
Assim vivemos em plenitude democrática, da promulgação da Constituição de 1988 até os idos de 2013, por longos e agradáveis 25 anos dourados, desde a redemocratização. Com efeito, de 1989 a 2014 transcorreram sete eleições nacionais competitivas para presidente da República. O primeiro presidente eleito, Collor de Mello, deixaria o poder em consequência de um processo de impeachment. A jovem democracia resistiria, inabalada, a essa primeira grande crise política, todavia, sem transbordamento a uma situação de crise institucional entre os Poderes. Seguiu-se, na década, uma agradável polarização político-partidária entre o PSDB, triunfal nas eleições de 1994 e 1998 (FHC), e o PT. A década seguinte e primeira do novo século iria assinalar o prolongado triunfo do PT e do presidente Lula nas eleições, em sequência, de 2002 e 2006, e em 2010 e 2014, com a presidente Dilma Rousseff. Até então, a civilizada e esclarecedora polarização entre o centro democrático e a esquerda democrática do espectro político ocupara todas as paixões políticas. Fazia o sistema político e partidário gravitar ao redor dessa aparentemente antediluviana competição política, programática e eleitoral. De um lado e outro, pensava-se o Brasil, a economia, o bem-estar, a estabilidade macroeconômica, o combate à inflação, o crescimento e o desenvolvimento, o emprego e a renda, o investimento e a produtividade, a educação e a saúde. O reformismo moderado conquistara lugar ao sol. O presidente Lula ampliou e, na forma de políticas públicas sistemáticas e integradas, institucionalizou o estado do bem-estar social brasileiro. Apesar da presença do gelatinoso centrão, a política vivia segundo uma cultura política preponderantemente programática e democrática. O autoritarismo era uma visão de mundo então abominada.
Da sociedade civil unida em luta contra a ditadura e pela democracia, à luta de uma sociedade civil contra a outra
Esse texto é parte de um livro autoral, em elaboração: “O Brasil e o labirinto: da democracia ameaçada à democracia consolidada?”. Nele, descrevemos e analisamos a prodigiosa inflexão na cultura política democrática, entre nós predominante de 1988 a 2013. Com efeito, a partir de 2013 e com a velocidade do relâmpago a sociedade civil democrática dos “anos dourados”, a época de 25 anos de plenitude democrática, época que foi uma épica de polarização política e eleitoral, todavia sem extremismos destrutivos, entre o PSDB e o PT, seria revirada de cabeça para baixo como se o Brasil estivesse irrevogavelmente cindido entre duas sociedades civis antagônicas.
Recorde-se que, porquanto em permanente disputa política nacional entre si, PT e PSDB formavam o arco do progressismo. Vivia-se uma época quando pouco ou nada se falava em um campo do conservadorismo, um tempo quando nenhum agente político ou organização alguma da sociedade civil apresentava-se em nome de uma direita, ainda que de uma direita democrática. As Jornadas de Junho, de 2013, ensejariam a ocasião para o surgimento de uma direita ideológica antiliberal, manifestamente orgulhosa de si. Ali teria início a estruturação de uma mudança na cultura política da sociedade. Até então estivera estavelmente demarcada por uma discreta e agregadora hegemonia do progressismo democrático, com sedimentação histórica, política e moral nas lutas pela redemocratização do país.
Em si, o conservadorismo como visão de mundo não é ameaça alguma à democracia. No Brasil contemporâneo o problema reside no fato de que o já empalidecido conservadorismo nacional resultaria encapsulado pelo reacionarismo antidemocrático. Logo iria acomodar-se no iliberalismo radical como se estivesse em seu lugar eleito e natural. A rápida cooptação e a resultante servidão voluntária do Partido Novo ao extremismo reacionário descreve uma impressionante e crepuscular evidência de indigência cultural e de fragilidade moral do liberal-conservadorismo como cultura política. Com efeito, de 2013 em diante, até 2022, constitui-se e se estrutura nacionalmente um outro campo ideológico e de cultura política pautado pelo conservadorismo antiliberal em costumes e valores, hiperliberal em economia, na linhagem do “estado mínimo” e da dissolução do estado de bem-estar social, semileal à democracia ou de frontal oposição a ela, um campo ideológico e político fronteiriço ao autoritarismo como “instinto” ou mentalidade, portanto, ainda não propriamente estruturado como ideologia. A direita constituía-se como um campo político pautado por uma agenda de valores conservadores e iliberais, com vontade de poder e de governar. Irrompera como um híbrido, laico e religioso, civil e militar, e de toga, com tinturas de conservadorismo, de fato, adepto de um tipo de reacionarismo destrutivo, contudo, socialmente pluriclassista. Com efeito, logo iria alcançar ampla penetração social e territorial. “Pela base”, sua sustentação social e religiosa confundia-se com o que viria a ser o bolsonarismo como movimento de massas; “pelo alto”, congregava a adesão majoritária das classes médias tradicionais, em rápido deslocamento do centro à direita, a adesão de parcelas majoritárias do grande empresariado urbano e o geral engajamento do grande empresariado rural. Formara-se rapidamente com a fisionomia social e ideológica de um bloco histórico de poder, moldado por e encapsulado em uma subcultura antidemocrática. Sua atratividade induzira a formação e a gravitação ao seu redor de um inusitado “partido fardado” comandado por generais de Exército, à frente o então comandante da Força, o general Eduardo Villas-Bôas.
Data de 2015 a articulação do movimento antidemocrático pelo impeachment da presidente reeleita. Apropriado pela extrema direita emergente e nas ruas, o impeachment iria ocupar a agenda política do antigo centro (PSDB e MDB), já em irrevogável inflexão à direita. As lideranças parlamentares e partidárias do centrismo haviam colapsado. O “baixo clero” parlamentar tomara o poder no Congresso Nacional. O impeachment estabelecera-se como a bandeira de aglutinação das novas direitas em ascensão sob a liderança de uma extrema direita ao mesmo tempo civil e militar, popular e empresarial, laica e religiosa, ao ponto de, em apenas dois anos, 2017-2018, constituir-se como um “bloco histórico” coeso de poder. Queria governar e governar para desconstruir as conquistas democráticas e populares originárias da Constituição de 1988. O sistema político entrara transitoriamente em colapso. O reacionarismo se apropriara do empalidecido conservadorismo ideológico nacional. Irrompera na sociedade na forma de uma “guerra de movimento” ideológica como uma “guerra cultural”, com foco em costumes e valores, em aberto e total antagonismo ao progressismo. Formara-se, cabe sublinhar, uma direita religiosa e militante amalgamada ao bolsonarismo, por sua vez consorciado a um movimento embrionário e triunfalista do Exército. Generais queriam participar do poder como um “quarto poder”, uma aberração, um inexistente “poder moderador” arbitrando entre e acima dos Poderes civis constitucionais.
Os militares queriam protagonismo estatal e político. Irrompiam como um partido fardado. Engajaram-se na eleição de Bolsonaro. Imaginavam exercer tutela sobre o presidente e, presumivelmente, cercá-lo de civilidade cautelar. Eis que, semelhante a um turbilhão, iria irromper uma hecatombe de acontecimentos! Julgamento do Mensalão (2012), Jornadas de Junho (2013), Operação Lava Jato e o lavajatismo ideológico (2014 a 2019), as crises superpostas em um cipoal de crises e entre si multiplicativas, a um tempo, multiformes, sucedendo-se e sobrepondo-se como crises política, social e econômica. Irrevogável, por escolha, segue-se o eclipse do PSDB, e, em consequência, a desestruturação do centro político e do sistema político. A resultante é uma abrupta condensação de forças em torno do que logo iria se configurar como uma extrema direita emergente, potencializada pelo impeachment, a politização das Forças Armadas e ação política intervencionista do partido fardado, a penetração de religião pela ideologia e a partidarização e a penetração da política pela religião. Impusera-se o fim do “Nós contra Eles” político e competitivo, sem extremismos, substituído pela imposição político-militar e religiosa de um ultra sectário e beligerante “Nós Sem Eles”, na linhagem de uma histeria ideológica de aniquilação do Outro. O PT havia sido eleito como o “inimigo” a ser destruído.
Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o PT encontravam-se em uma situação semelhante a um “cerco”. Vicejava um antipetismo. Tudo isso iria consumar-se em um turbilhão de acontecimentos em sucessão ou em simultaneidade. Triunfal, a extrema direita e seus recentes aliados terminariam por impor à democracia e em nome dela a fraude do impeachment de uma presidente reeleita e inatacável. Insaciáveis e em busca do poder a qualquer preço, todavia ainda preferencialmente pelo voto, com apoio militar, e, na ocasião, agraciados pela servidão do Supremo, o “bloco histórico” do novo autoritarismo antidemocrático iria enviar o ex-presidente Lula à prisão, impondo-lhe, em adição, o impedimento eleitoral, como queriam os militares. Assim, a aliança entre o capital financeiro e o agronegócio, o extremismo religioso, a toga e a farda, o reacionarismo virulento e os acovardados conservadorismo e liberalismo nacionais, iriam garantir a eleição de um ex-militar – de fato, segundo Geisel, um “mal militar”, praticamente expulso do Exército – para presidente da República.
O fato que fica é que a extrema direita conquistaria o poder pelo voto. Legalmente, formara maioria eleitoral, embora sem formar maioria em um Congresso Nacional de fisionomia geral conservadora, que durante os dois primeiros anos seria hostilizado pelo novo presidente. Assim falaram as urnas eletrônicas, as mesmas que, quatro anos mais tarde, em 2022, o mesmo Jair Bolsonaro iria acusar de fraude, como se ele próprio tivesse, em 2018, sido eleito pela fraude.
Seja como for, o governo Bolsonaro e o movimento laico, religioso, civil e militar do bolsonarismo “exigiram” do enfraquecido e assediado progressismo organizar e liderar, sob a democracia ameaçada, a resistência democrática à autocracia em processo. A resistência iria florescer e espalhar-se a partir de uma cela, em Curitiba. O livro mencionado é uma investigação que busca respostas às perguntas:
“Como foi possível a rápida formação de uma extrema direita nacional pluriclassista, civil, militar, religiosa e togada, envolvendo, do agronegócio ao capital financeiros, de classes médias a frações das classes populares, predominante entre evangélicos, ricos e classes médias, homens, brancos, e com predomínio no Sul e no Sudeste do país, após 25 anos dourados de vida em democracia?”
E, seguindo-se:
“Onde e como nós erramos, nós, do campo do progressismo democrático e reformista, ao ponto de dispor a vitória eleitoral a um presidente psiquicamente bestializado, cruel, e de propósitos patentemente antidemocráticos e, além do mais, criminosos? Onde e como nós erramos, ao ponto de vermos triunfar sobre os 25 anos dourados de democracia, dez sombrios anos de ameaça permanente à democracia?”
Entre nós, a democracia esteve intensamente ameaçada. Todavia, não está consolidada; tampouco, encontra-se inabalada. A “Ordem da Ameaça” e do fascismo todavia encontra-se dotada de força nacional competitiva. Prossegue descrevendo sua sombria ação destrutiva em nosso país, ao ponto de uma elite política congressual e de governadores, como Romeu Zema, saudosos de seu herói Silvério dos Reis, expressarem ódio à Constituição e à democracia, desprezo pela soberania nacional e nocivo desdém pelo sentimento de dignidade e de coesão nacional do Povo-Nação, que constitui o Brasil.
João Batista Mares Guia é professor de Sociologia da UFMG. Primeiro Deputado Estadual do PT em MG. Secretário Municipal em Contagem por 8 anos. Ex-secretário de Estado de Educação de MG. Consultor do Banco Mundial. Foi coordenador da campanha pelas “Diretas Já” em MG.