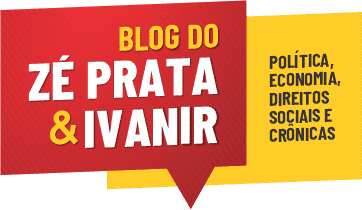O direito à autoproteção dos Estados Nacionais é melhor definido e, assim, mais limitado classicamente, essencialmente a quatro formas: a legítima defesa, as contramedidas, as medidas de retorsão e o estado de necessidade.
A legitima defesa é a forma mais bem definida de autoproteção. Seu regime jurídico é determinado pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, pelo qual o recurso à força é autorizado, ainda, ela somente pode ser aplicada na condição que um Estado seja “objeto de uma agressão armada”. Tratamos da interpretação estadunidense da legítima defesa “preventiva” em nosso recente ensaio aqui neste blog, e convido todos a (re)lê-lo.
No curso dos anos 1960, numerosos Estados advindos da descolonização aumentaram os efetivos das Nações Unidas. A conseqüência dessa situação será a adoção, pela Assembléia Geral, de numerosas resoluções condenando qualquer ingerência de Estados sobre os outros Estados, que enunciam a proibição do uso de medidas econômicas, políticas ou de qualquer outra natureza que possam “coagir um outro Estado a lhe subordinar o exercício de seus direitos soberanos”. Sem um amplo consenso, seu valor jurídico é, pois, diminuto, chamada inclusive na doutrina de soft law. A jurisprudência internacional legitimou as chamadas contramedidas, na sentença arbitral do caso concernente ao Acordo Relativo Aos Serviços Aéreos em 1978:
“ele [o Estado] tem o direito, sob a reserva das regras gerais do direito internacional relativas às coerções armadas, de fazer respeitar seu direito por ‘contramedidas’”.
A Corte Internacional de Justiça foi levada a confirmar essa decisão no caso relativo ao Projeto Gabcikovo-Nagymaros e a precisar que o uso dessas contramedidas era condicionado: Ela deve ser justificada, proporcional, provisória e reversível, já que esta “deve ter por finalidade incitar o Estado autor do fato ilícito a executar as obrigações que lhe incumbem em direito internacional, e que a medida deve ser reversível”.
Já as medidas de retorsão, contrariamente às contramedidas, nunca levantaram problema quanto a sua aplicação. Se certamente não são amicais, estas são lícitas, perante o direito internacional, e citamos como exemplo a ruptura ou suspensão das relações diplomáticas, ou ainda, alteração no regime de vistos para os nacionais do Estado visado.
Ainda, como vimos isso no nosso artigo anterior sobre o uso de armas nucleares, o estado de necessidade justifica a repugnante constatação de que a sobrevida do Estado pode derrogar o próprio direito à vida, por prevalencer o direito vital do Estado. Dentro do conceito de estado de necessidade, vemos outras disposições convencionais que apresentar terminologias equivalentes, como interesses supremos do país (presente no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares), ou os interesses essenciais de segurança (Art. XXI do GATT 1994). Aliás, foi usando esta disposição do GATT 1994, que a Governo Trump 1 justificaria o aumento das tarifas de importação de aço e alumínio (primordialmente à União Européia) em 2018.
É nessa perspectiva que devem ser estudadas as interações entre as noções juridicamente definidas e a aplicação do conceito de autoproteção tal como reivindicado pelos Estados. Notadamente, pelos Estados Unidos, que no exercício de sua autoproteção utilizam-se hoje da promulgação de leis nacionais com finalidade de produção de efeitos extraterritoriais.
Atualmente, a defesa de interesses do Estado (ou melhor do Governo) norte-americano é baseada na ameaça do uso da força e da aplicação de sanções econômicas. E a coersão econômica se opera tendo como alvo praticamente qualquer indivíduo, entidade ou empresa no mundo. Este assume muitas formas: sanções primárias destinadas a enfraquecer países considerados hostis e organizações criminosas ou terroristas; sanções secundárias destinadas a indivíduos, entidades ou empresas cujas atividades representam uma ameaça à segurança nacional dos EUA; leis que protegem e coletam dados e inteligência; regulamentações destinadas a limitar o acesso ao mercado e as exportações de bens e tecnologias de dupla utilização para países hostis.
Neste dia 9 de julho, Trump enviou carta ao governo brasileiro impondo tarifas comerciais no importe de 50% (cinquenta por cento), injustificada pelo ponto de vista do comércio internacional, posto que a balança é superavitária para os Estados Unidos. Motivação declarada?
“A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro […] é uma vergonha internacional. […]
Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à liberdade de expressão dos americanos (como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens SECRETAS e ILEGAIS de censura a plataformas de redes sociais dos EUA, [….])”.
A prática da extraterritorialidade tem uma longa tradição nos Estados Unidos, enraizada na Lei Sherman Antitruste de 1890. Concebida para prevenir comportamentos anticompetitivos no mercado americano e desmantelar monopólios e cartéis, essa lei nacional de regulamentação econômica rapidamente transcendeu fronteiras para se aplicar a qualquer atividade econômica considerada prejudicial ao comércio americano. Sob o impulso dos tribunais americanos, a Lei Sherman agora se aplica à atividade de qualquer empresa, nos Estados Unidos ou no exterior, que represente uma ameaça direta ao mercado americano.
A Restatement of the Law, Fourth: Foreign Relations Law of the United States (2018) prevê claramente que o governo americano tem o poder de “regulamentar extraterritorialmente” sempre que, em qualquer situação, exista uma “conexão genuína” entre os Estados Unidos e um ato por ele visado. Em 1945, a jurisprudência americaina alargou a definição desta ligação aos EUA a qualquer atividade estrangeira “suscetível a prejudicar as exportações americana” (Cf. United States v. Alcoa; 1945); e constitucionalmente, cabe ao Congresso Americano definir expressamente a aplicação extraterritorial de seu Direito (Cf. Morisson v. National Australia Bank; 2010).
As leis permitem a mais ampla possibilidade de atuação: a segurança externa dos EUA (como as leis Trading with the Enemy Act de 1917; D’Amato-Kennedy Act de 1996, sobre o Irã e a Líbia; Helms-Burton Act de 1996 – contra o regime cubano; USA PATRIOT Act de 2001 – que contém disposições relativas à vigilância e inteligência da segurança nacional; Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act de 2017 – visando Rússia e Coréia do Norte); o controle das exportações (Atomic Energy Act de 1954, Export Controls Reform Act de 2018); luta contra a corrupção e lavagem de dinheiro (Foreign Corrupt Practices Act de 1977); fraudes fiscais (Foreign Account Tax Compliance Act de 2012). Ademais, tais leis criaram agências específicas para garantir o cumprimento das sanções, ou outorgaram poderes a órgãos já existentes.
Contudo, o ápice do sistema extraterritorial é, certamente, o Global Magnitsky Human Rights Accountability Act de 2016, que autoriza o Presidente dos Estados Unidos a impor sanções econômicas, revogar vistos, congelar ativos e recusar a entrada nos Estados Unidos a qualquer cidadão estrangeiro suspeito de violações dos direitos humanos ou corrupção. Imperioso é ver o texto em seus principais elementos:
SEÇÃO 3. AUTORIZAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES.
(a) EM GERAL.— O Presidente (dos EUA) poderá impor as sanções descritas na subseção (b) a qualquer pessoa estrangeira que o Presidente determinar, com base em evidências credíveis:
[…](1) é responsável por execuções extrajudiciais, tortura ou outras violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, cometidas contra indivíduos em qualquer país estrangeiro que buscam:
(B) obter, exercer, defender ou promover direitos humanos e liberdades internacionalmente reconhecidos, como as liberdades de religião, expressão, associação e reunião, e os direitos a um julgamento justo e a eleições democráticas;
A carta do presidente estadunidense, bem como os reiterados discursos deste e de seu staff, não serve para aumentar as tarifas para os produtos brasileiros, mas tem o único condão de enquadrar pessoas que se deseje sancionar nos termos da seção 3 (a) (1) (B) da Lei Magnitsky. Esqueçamos a revogação de visto, e o impedimento da visita de Ministros do STF à Disney (ou NYC). O que está em jogo é a morte financeira das pessoas físicas, escalando-se para um banimento de uso de tecnologia e sistemas norte-americanos. Vejamos, pois, as sanções, da da seção 3 (b) (A) :
(b) Sanções Descritas. — As sanções descritas nesta subseção são as seguintes:
(A) Em geral. — O bloqueio, de acordo com a International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.), de todas as transações em todos os bens e interesses em bens de uma pessoa estrangeira, se tais bens e interesses em bens estiverem nos Estados Unidos, estiverem dentro dos Estados Unidos, ou estiverem ou entrar na posse ou controle de uma pessoa dos Estados Unidos.
Em apertadíssima síntese, ter cartão de crédito com empresa americana (VISA/MASTER), conta em banco com capital relevante americano, ou que deseje operar no mercado americano, seguro de qualquer tipo com empresa americana, tudo isso será impossibilitado para um sancionado. Bloqueio de propriedades imobiliárias, ou investimentos em empresas com capital controlador em jurisdição relevante para os EUA, serão realizados.
Caso seja de vontade unilateral do presidente americano, sem nenhuma necessidade de prévia validação do seu Legislativo, permite-se a decretação de sanção qe transcenda das pessoas físicas para pessoa jurídica e entidades públicas brasileiras. Portanto, não é impossível imaginar uma sanção ao próprio tribunal que der a decisão que desagrade ao democrata mais ditador do mundo.
O Supremo (ou ainda, o TSE) usa sistemas de informática de empresas americanas (Google ou Microsoft), armazenam dados em cloud em empresa americana (AWS, Azure ou Google Cloud), e uma ordem fundamentada de sanções não econômicas do IEEPA, indiretamente possíveis pela Lei Magnitsky, geraria o colapso total da cúpula do Judiciário brasileiro, que perderia integralmente o acesso a todo serviço de tecnologia baseado nos Estados Unidos:
SEÇÃO 203. (a) (1) Nos momentos e na medida especificados na seção 202, o Presidente poderá, sob os regulamentos que prescrever, por meio de instruções, licenças ou de outra forma —
[…](B) investigar, regular, direcionar e compelir, anular, invalidar, impedir ou proibir qualquer aquisição, posse, retenção, uso, transferência, retirada, transporte, importação ou exportação de, ou negociação, ou exercício de qualquer direito, poder ou privilégio com relação a, ou transações envolvendo, qualquer propriedade na qual qualquer país estrangeiro ou um nacional dele tenha qualquer interesse; por qualquer pessoa, ou com relação a qualquer propriedade, sujeita à jurisdição dos Estados Unidos.
Atualmente, o mundo carece de meios legais para responder eficazmente às sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos que seriam contrárias aos seus interesses. O abuso de leis e medidas extraterritoriais constitui uma ameaça à ordem global, e, até o momento, a resposta do Brasil – tanto legislativa, quando diplomática –às investidas extraterritoriais que ferem nossa soberania tem sido inadequada, mesmo que ressaltemos a dificuldade do tema.
Como no plausível ataque com armas nucleares táticas ao Irã, o arcabouço jurídico permitiria a ação mais gravosa, não foi essa a escolha final do mandatário americano. Provavelmente, estaremos em uma longa batalha das possibilidades ficcionais às quais Trump se agarrará para tentar influenciar – e a batalha maior é a eleitoral – a escolha brasileira para presidente em 2026. Mas como diria Mark Twain, “A verdade é mais estranha que a ficção, porque a ficção é obrigada a lidar com possibilidades; a verdade, não”, e nenhuma atitude extrema será tomada… para pânico daqueles que sempre esperarão por algo nas próximas 72 horas.
Thiago Zanini é Secretário Municipal de Tecnologia da Informação em Contagem.